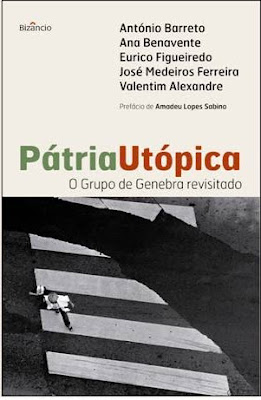Já nos anos setenta, começaram a aparecer os baldes de plástico, a substituir as cestas tradicionais. E os pequenos bidões ou contentores de latão ou plástico no lugar dos antigos cestos vindimos. Mas as cabeças daquelas mulheres que aguentam todos os pesos em equilíbrio são as mesmas...
domingo, 27 de novembro de 2011
domingo, 20 de novembro de 2011
Luz - Diante de Brandeburgo, Berlim, 2010
.
.
No início da famosa avenida Unter den Linden. Os turistas abundam. E uns improvisados “artistas” fazem o que podem por ganhar a vida e “animar” os locais. Apesar da contenção dos alemães que me parece não terem exagerado com a epopeia da vitória sobre o comunismo, há, aqui e ali, ridículas figuras de “espontâneos” que procuram divertir os turistas. Que, aliás, se deixam divertir... Há soldados russos, espiões da STASI (a polícia política da Alemanha comunista), figuras de cera, maquetes de camiões dos anos sessenta... E toda aquela gente se faz fotografar, pois claro!
domingo, 13 de novembro de 2011
Um Rumo para Portugal (*)
.
(*) - IV Conferência Internacional do Funchal
Funchal, 4 e 5 de Novembro de 2011
O TEMA que me é oferecido pelos organizadores desta conferência internacional é de tal modo ambicioso que deveria obrigar qualquer autor a um esforço de humildade. Prever o futuro? Definir um horizonte? Desenhar um rumo? Eis uma actividade necessária, interessante e estimulante. Necessária, porque é sempre bom conhecer o destino ou o objectivo da nossa jornada. Interessante, pois que nos convida a rever a história, a conhecer o presente e a ouvir os outros. Estimulante, pois leva-nos a perceber o invisível e a imaginar o desconhecido. Mas tenhamos consciência de que se trata apenas de um exercício. Por isso, com modéstia digo que não vos trago um rumo. Isso não é coisa de um homem só. É coisa de um povo.
A humanidade tem, desde há muito, esse privilégio único: o de poder conhecer o passado e estudar o presente. Ter consciência de si, como sujeito ou como sociedade: perceber as origens e os antepassados e olhar para o presente de modo informado fazem parte dos nossos atributos humanos. Atrevidos como somos, depressa desafiámos os deuses e quisemos determinar o horizonte, desenhar o rumo e prever o futuro. Não faltam, no património cultural e na história do pensamento, as previsões, os projectos, as construções e as utopias mais variadas. Um olhar lúcido sobre essas criações e tentativas levar-nos-á a perceber que as previsões depressa se revelaram insuficientes ou erradas. As melhores estratégias esbarraram no imprevisto. Os mais perfeitos projectos de futuro tornaram-se antecipações culturalmente interessantes, mas que dizem mais sobre os fantasmas dos seus criadores do que sobre as capacidades de concretização. E, no entanto, não desistimos.
Com o desenvolvimento das ciências, cada vez estamos mais convencidos de que seremos capazes de traçar as linhas essenciais do futuro. A um político, a um filósofo ou a um economista, não hesitamos em pedir-lhe previsões e desígnios. Um partido que se preza publica a sua visão do mundo, o que quer dizer simplesmente a previsão do que será o futuro de acordo com a sua vontade. E as suas promessas. Em momento de crise, como em tempo de prosperidade, não falta a pergunta da praxe: “Para onde vamos?”. As respostas são geralmente precisas e voluntaristas, mas também erradas e rapidamente ultrapassadas. Quem, há vinte ou trinta anos, podia prever ou sequer suspeitar do que vivemos hoje? Da emergência da China como potência de primeiro plano à crise financeira da primeira década do século XXI; do fim do apartheid à implosão do universo comunista; do terrorismo endémico na sociedade internacional ao desemprego crónico nos países mais desenvolvidos do mundo; quem previu ou antecipou?
Se viermos só a Portugal, o imprevisto é de dimensão equivalente. Os vinte anos de desenvolvimento notável, seguidos de dez de crise excepcionalmente dura; a chegada de algumas centenas de milhares trabalhadores estrangeiros; o envelhecimento acelerado da população; a quebra rápida da natalidade; a redução formidável da mortalidade infantil; e até o brutal endividamento público e privado dos Portugueses: eis apenas alguns factos não previstos e não antecipados, mas que hoje moldam os nossos comportamentos e condicionam as nossas vidas.
Regresso ao tema inicial: Um rumo para Portugal. O rumo de um país define-se no cruzamento entre o legado, a vontade e as circunstâncias. Em parte, a história e o presente condicionam o futuro e os caminhos a percorrer. Em parte também, a vontade dos povos, particularmente dos seus dirigentes, contribui para o desenho do horizonte e o traçado dos percursos. Finalmente, as circunstâncias pesam consideravelmente na determinação do campo do possível. As circunstâncias podem ser de ordem interna ou externa. No primeiro caso, avultam a geografia e os recursos materiais e económicos. No segundo, as relações internacionais, começando pela política e pela economia e passando pela ecologia e a ciência, devem ser mencionadas como condicionantes de peso.
O rumo de uma nação ou de um país depende de todos estes factores e do modo como se realiza este cruzamento. Para nada serve sonhar um rumo impossível e fantasioso, a não ser como divertimento lúdico. Ou antes, pode servir como inspiração ou exercício, mas não como construção política do futuro. A verdade é que, mais do que nunca na nossa história, faz-se sentir o peso das circunstâncias externas, do preço do petróleo à economia internacional, das instituições europeias em crise aos efeitos da globalização. Esta última, aliás, é a grande parteira da dependência ou das interdependências, que nos tornam mais condicionados pelas circunstâncias que nos ultrapassam.
A vontade de um povo e dos seus dirigentes merece menção especial. Quando inteligentes, os visionários, são certamente interessantes, mas, muitas vezes, inúteis. Os melhores são os que prefiguram o encontro entre o possível e a liberdade de escolha. Quando de elevada qualidade filosófica, politica ou cultural, os visionários oferecem-nos uma inspiração fértil. Se autoproclamados iluminados, não passam de vendedores de sonhos.
Por que se fala tanto de incerteza, tema genérico desta Conferência? Porque o rumo é inseguro e mal definido, com certeza. Mas porquê? Porque existe uma crise de recursos. Porque as circunstâncias externas imprimem um clima de incerteza. Porque a Europa está ela própria em crise. Porque as nações e os Estados europeus procuram, sem o encontrar, o seu próprio rumo. Porque a globalização aumenta as exigências de definição da vontade de um povo. Porque o povo português e os seus dirigentes têm adiado o debate, a procura e a definição de um rumo. Porque, finalmente, se tem aprofundado a clivagem entre os dirigentes e o povo.
Curioso é o paradoxo actual segundo o qual o aumento da incerteza parece proporcional ao aumento das capacidades de previsão. Nunca como hoje tivemos ao nosso alcance tantos instrumentos de diagnóstico, medida e previsão. Nunca como hoje tivemos à disposição tantos métodos e técnicas de gestão e de planeamento, capazes até de lidar com o imprevisível. Mas também nunca como hoje vivemos tanto sob o signo da incerteza. Dependemos todos, cada vez mais, uns dos outros. A globalização trouxe uma autêntica cadeia de causas, efeitos e repercussões por inércia que fazem com que todos os povos sintam as consequências do que se passa em qualquer sítio do mundo. “Isto anda tudo ligado”: frase antiga e cliché habitual, que nunca foi tão verdade como agora.
Pode parecer paradoxal, mas é justamente porque penso que é difícil ou mesmo impossível prever o futuro ou traçar um rumo com elevado grau de probabilidade, que penso também que é nossa obrigação, cidadãos e dirigentes, procurar caminhos e debater possibilidades. Porque se trata de incerteza generalizada. Mas também porque é essa atitude que nos permite fazer melhores escolhas. Na verdade, o futuro é feito de miríades de decisões, individuais ou colectivas, tomadas todos os dias. São essas escolhas e essas decisões que, aparentemente inócuas ou sem alcance, acabam por formar vontades colectivas e sobretudo determinam a margem de liberdade que temos diante de nós. Apesar da beleza poética da fórmula, não acredito que “o caminho se faça caminhando”. Talvez seja verdade noutros domínios, noutras áreas, na literatura, nas artes ou nos sentimentos. Mas, no percurso colectivo de um povo, aumentam a liberdade e a segurança se conhecermos, a traços largos, o caminho e o itinerário que queremos delinear.
Olhando para o nosso país, nesta década que apenas começa e já se revela ser de enorme dificuldade, não me parece descabido enumerar algumas balizas que, sem serem dogmáticas, são aquelas que me parecem ser mais calhadas para a nossa liberdade individual e colectiva. Haverá outras escolhas, estas são as que proponho.
A Europa no centro dos nossos horizontes: eis o eixo central das linhas definidoras de um rumo possível. Todos os argumentos pesam nesse sentido. Desde os emigrantes, que foram a nossa primeira contribuição para a integração europeia, até à comunidade de legado e património. Tudo nos faz olhar para a Europa. Dela vieram princípios e tradições, do Cristianismo às “Luzes”, da democracia ao Estado social. Na Europa encontrámos refúgio, nos anos difíceis da revolução de 1975 e da descolonização desajeitadamente levada a cabo. Da Europa vieram também os principais estímulos para as grandes mudanças sociais, económicas e políticas dos anos sessenta a oitenta. Hoje, mesmo com a União Europeia em crise certa e em momento de provável transformação, os Portugueses não devem reagir com medo ou passividade, antes se devem empenhar em encontrar novas soluções no quadro europeu. Fora dele, talvez o isolamento e a pobreza esperem por nós. E provavelmente menos liberdade.
Ao lado da Europa, em complemento da Europa, olhemos para as comunidades portuguesas a viverem em três ou quatro continentes, nomeadamente na Europa, também. A nação portuguesa é de tal modo feita que as comunidades fazem parte integrante da cultura e do modo de viver. Uma política que as envolva no percurso colectivo não se faz por misericórdia ou nostalgia. Faz-se porque reforça a nação e a sua identidade. Esta última não é um devaneio cultural (e se fosse não haveria mal nisso...), é um factor de autonomia que aumenta a nossa liberdade.
Internamente, a equidade, a procura de uma maior equidade, deveria fazer parte do nosso horizonte. Por razões de vária ordem, carregamos, mais do que outros povos, um fardo de desigualdade excessiva. Há qualquer coisa na sociedade portuguesa, nos seus costumes e na sua história, nas estruturas sociais e na função da propriedade, nas relações humanas e sociais e na organização do Estado, que faz com que sejamos mais desiguais do que a maior parte dos países ocidentais. Ora, a equidade não é apenas um acto de solidariedade, misericórdia ou generosidade. É também, sabe-se cada dia melhor, um factor de coesão e de desenvolvimento. A equidade aumenta a participação dos povos, reforça o sentido de responsabilidade e estimula a recompensa e o mérito.
Para que a equidade tenha um significado, é necessário assegurar que a Justiça funcione e cumpra os seus deveres. O que, infelizmente, não é o caso entre nós. Por isso, a Justiça deveria estar no centro das prioridades nacionais. A Justiça portuguesa não se adaptou bem a uma sociedade aberta e democrática; a um tempo industrial, nem a uma sociedade da informação e conhecimento; ao mercado aberto e à globalização; a um regime constitucional de reconhecimento de direitos e deveres; a um Estado de Direito em desenvolvimento. A Justiça portuguesa ficou prisioneira de corpos profissionais poderosos, de tradições rurais e despóticas e de métodos burocráticos e autocráticos. Com tudo isso, é também a liberdade individual que fica prejudicada.
Ora, a liberdade individual num país como o nosso, de tradição paternalista ou autoritária, tem valor revolucionário. Vivemos décadas ou séculos em que o “interesse nacional”, interpretado por alguns e quase sempre equiparado ao “interesse do Estado”, se sobrepôs às liberdades individuais. Estas nunca foram fundadoras do Estado. Os direitos de grupos e as prerrogativas de corporações e famílias, sem falar nos interesses do Estado e do poder político, levaram sempre a melhor sobre a liberdade individual. Triste sina a de um povo onde o mero termo de “liberal” é mal visto e negativamente avaliado!
A cultura do povo deveria estar no topo das nossas urgências. Não falo da “cultura popular”, indispensável, rica e persistente. Para essa, não é preciso elaborar políticas públicas. Basta deixá-la viver, respeitá-la e não a ferir. É à “alta cultura” que me refiro. O termo é estranho, está mesmo hoje condenado por elitista. Mas foi erro histórico. Essa cultura é o legado comum da humanidade, dos povos ocidentais no nosso caso. Essa cultura, cuja permanência e sobrevivência não estiveram em causa durante séculos, está hoje arrumada em bibliotecas e afastada das escolas e das universidades. A formação cultural é o mais sério instrumento de libertação e de igualdade. Mais do que a formação técnica. Os Portugueses, por séculos de pobreza, de analfabetismo e desigualdade, tiveram reduzido acesso à cultura. Hoje, as escolas, por obsessão profissional, desdenham a cultura, abandonam as artes e marginalizam a erudição.
Pela cultura, popular e erudita, deveremos reafirmar os traços essenciais de uma identidade capaz de ser uma garantia superior e efectiva dos direitos e da liberdade de cada um. Substituir a mítica grandeza nacional pela liberdade e dignidade do cidadão. O próprio do Príncipe ou da República, na sua mais nobre acepção, consiste na defesa e na protecção dos cidadãos. Em termos actuais, o próprio do Estado, em tempos de globalização, é a defesa e a protecção dos cidadãos. E a identidade é um factor de liberdade.
A valorização do espaço público é princípio que deveria fazer parte de um novo credo. O espaço público onde se vive e passeia. O espaço pública onde se trabalha e conversa. O espaço público onde se discute e confraterniza. Os jardins e as ruas compõem esse espaço público, tal como as instituições, a paisagem, as escolas, os locais de arte e espectáculos e a televisão. As cidades são, muito especialmente na nossa civilização, o espaço público por definição. Ora, em Portugal, as cidades são frequentemente pouco acolhedoras, desconfortáveis, por vezes violentas. As cidades são mal organizadas e deixadas ao abandono e ao lixo. Respeitar e enriquecer o espaço público como se fosse nosso é valor que a todos deveria guiar. É sobretudo exemplo que as autoridades autárquicas deveriam dar todos os dias.
O desenvolvimento e a consolidação de uma sociedade plural são orientações para o nosso futuro. O que implica desenvolver as condições de uma sociedade onde a exclusão seja cada vez mais difícil. Não apenas da exclusão social, que tanto vigora em Portugal como noutros países ocidentais. Há na verdade fenómenos de exclusão mais antigos, talvez mais graves, que têm vindo a ser afastados do nosso país. Portugal teve uma longa experiência de exclusão política, religiosa, étnica e cultural. Árabes, judeus e católicos; sacerdotes, republicanos e monárquicos; liberais, democratas, socialistas e comunistas; sindicalistas e capitalistas; todos estes foram já uma, duas, três vezes perseguidos, excluídos e até expulsos. Hoje, não é o caso. É um dos raros momentos na época contemporânea em que parece haver lugar para todos. Não é pouca coisa. Este novo pluralismo da sociedade é um bem raro que devemos acarinhar e proteger. E não se pense que se trata de voto piedoso e eterno. Com efeito, em tempos de crise duradoira, é possível que forças centrífugas e contraditórias exerçam pressão contra este pluralismo recente.
Outro princípio, finalmente, o do respeito pela propriedade e pelo investimento. Se olharmos com lucidez, sempre a propriedade foi mal vista e mal encarada. Um dos obstáculos ao desenvolvimento sempre foi esta atávica vontade de conter a propriedade, de dominar o investimento e de condenar as actividades lucrativas. Em dois séculos, perdeu-se propriedade e investimento, por actos de pura cupidez política ou pessoal. A falta de certeza e de segurança na actividade económica sempre nos afligiu. Estimular, promover, atrair e garantir a propriedade e o investimento das pessoas, das famílias e das empresas é outra das revoluções que nos esperam.
Portugal deveria distinguir-se pelo espaço público, pela humanização das instituições, pela cultura do seu povo, pela equidade que promove, pelo serviço de saúde que defende, pela escola de mérito que cultiva, pela identidade que preserva ao serviço da liberdade de cada um. Mais do que a força, a glória e a competitividade, é a humanidade dos costumes e das instituições que nos deveria distinguir.
Eis que parecem desejos, mais do que linhas de rumo. Estou consciente disso. Mas não esqueçamos que são votos informados: na verdade, em todas estas prioridades, da liberdade individual ao cuidado pelo espaço público, está inscrita a vontade de contrariar tendências longas na sociedade portuguesa. A liberdade individual, por exemplo, não tem antiga tradição entre nós, quando comparada com o paternalismo ou o despotismo, esclarecido ou não. A dependência dos cidadãos perante os grandes poderes, nomeadamente o Estado, tem sido tradicionalmente uma constante da nossa história.
Com igual permanência se deve referir a reduzida participação dos cidadãos na vida colectiva e no espaço público. Os Portugueses sofrem de uma falta atávica de informação. O segredo de Estado tem uma constância estranha. O método do facto consumado parece ter conquistado dirigentes políticos de várias crenças, idades e convicções. A situação actual é paradigmática. Apesar dos progressos da sociedade aberta e da multiplicação de canais e vias de informação, os Portugueses sentem e sabem que não conhecem, a tempo, o teor dos problemas que nos afligem. A evolução da dívida nacional e da dívida pública, por exemplo, foi escondida dos cidadãos durante anos. Ainda hoje é difícil, se não impossível, saber as causas e as origens da aceleração brutal do endividamento. A política de austeridade que se seguiu, inevitável em muitos dos seus vectores, está a ser imposta num clima de débil informação. Ora, esta não é evidentemente um fim em si próprio. A informação produz conhecimento e liberdade, mas também participação e envolvimento. O que os poderes públicos estão a exigir dos Portugueses exige um esforço ilimitado de explicação e uma tentativa sincera e honesta de chamar os cidadãos a assumir as suas responsabilidades. Além de tudo, os poderes públicos, mesmo em tempo de crise grave, habituaram-se a apenas privilegiar a divisão e o método adversativo de conduzir a política. Nas negociações internacionais e europeias em que Portugal se tem empenhado, pela força das circunstâncias, nos últimos meses, quase sempre imperou o factor divisor entre as forças políticas. A certo momento, pensou-se que um esforço de unidade tinha dado resultados. Infelizmente, depressa se verificou que os competidores e adversários regressavam, com toda a sua energia à oposição, à contradição e à indisponibilidade para a informação e a negociação. Ora, na actualidade, tanto nacional como internacional, é fundamental que um esforço comum se sobreponha ao bairrismo partidário.
Em conclusão: conhecemos o legado histórico e estamos ao corrente das enormes dificuldades impostas pelas circunstâncias internas e externas. Mas a vontade do povo exprime-se pouco e mal. E as decisões dos dirigentes políticos e das elites sociais são mal conhecidas, mal preparadas e pouco comunicadas. Em todo o caso, pouco ou nada participadas. Dessa maneira, podemos esperar passividade ou indiferença, mas também revolta ou contrariedade. Desenhar um rumo, sem a tentação visionária, exige coesão e participação. Estas constituem hoje talvez os mais sérios défices da sociedade portuguesa.
-A humanidade tem, desde há muito, esse privilégio único: o de poder conhecer o passado e estudar o presente. Ter consciência de si, como sujeito ou como sociedade: perceber as origens e os antepassados e olhar para o presente de modo informado fazem parte dos nossos atributos humanos. Atrevidos como somos, depressa desafiámos os deuses e quisemos determinar o horizonte, desenhar o rumo e prever o futuro. Não faltam, no património cultural e na história do pensamento, as previsões, os projectos, as construções e as utopias mais variadas. Um olhar lúcido sobre essas criações e tentativas levar-nos-á a perceber que as previsões depressa se revelaram insuficientes ou erradas. As melhores estratégias esbarraram no imprevisto. Os mais perfeitos projectos de futuro tornaram-se antecipações culturalmente interessantes, mas que dizem mais sobre os fantasmas dos seus criadores do que sobre as capacidades de concretização. E, no entanto, não desistimos.
Com o desenvolvimento das ciências, cada vez estamos mais convencidos de que seremos capazes de traçar as linhas essenciais do futuro. A um político, a um filósofo ou a um economista, não hesitamos em pedir-lhe previsões e desígnios. Um partido que se preza publica a sua visão do mundo, o que quer dizer simplesmente a previsão do que será o futuro de acordo com a sua vontade. E as suas promessas. Em momento de crise, como em tempo de prosperidade, não falta a pergunta da praxe: “Para onde vamos?”. As respostas são geralmente precisas e voluntaristas, mas também erradas e rapidamente ultrapassadas. Quem, há vinte ou trinta anos, podia prever ou sequer suspeitar do que vivemos hoje? Da emergência da China como potência de primeiro plano à crise financeira da primeira década do século XXI; do fim do apartheid à implosão do universo comunista; do terrorismo endémico na sociedade internacional ao desemprego crónico nos países mais desenvolvidos do mundo; quem previu ou antecipou?
Se viermos só a Portugal, o imprevisto é de dimensão equivalente. Os vinte anos de desenvolvimento notável, seguidos de dez de crise excepcionalmente dura; a chegada de algumas centenas de milhares trabalhadores estrangeiros; o envelhecimento acelerado da população; a quebra rápida da natalidade; a redução formidável da mortalidade infantil; e até o brutal endividamento público e privado dos Portugueses: eis apenas alguns factos não previstos e não antecipados, mas que hoje moldam os nossos comportamentos e condicionam as nossas vidas.
Regresso ao tema inicial: Um rumo para Portugal. O rumo de um país define-se no cruzamento entre o legado, a vontade e as circunstâncias. Em parte, a história e o presente condicionam o futuro e os caminhos a percorrer. Em parte também, a vontade dos povos, particularmente dos seus dirigentes, contribui para o desenho do horizonte e o traçado dos percursos. Finalmente, as circunstâncias pesam consideravelmente na determinação do campo do possível. As circunstâncias podem ser de ordem interna ou externa. No primeiro caso, avultam a geografia e os recursos materiais e económicos. No segundo, as relações internacionais, começando pela política e pela economia e passando pela ecologia e a ciência, devem ser mencionadas como condicionantes de peso.
O rumo de uma nação ou de um país depende de todos estes factores e do modo como se realiza este cruzamento. Para nada serve sonhar um rumo impossível e fantasioso, a não ser como divertimento lúdico. Ou antes, pode servir como inspiração ou exercício, mas não como construção política do futuro. A verdade é que, mais do que nunca na nossa história, faz-se sentir o peso das circunstâncias externas, do preço do petróleo à economia internacional, das instituições europeias em crise aos efeitos da globalização. Esta última, aliás, é a grande parteira da dependência ou das interdependências, que nos tornam mais condicionados pelas circunstâncias que nos ultrapassam.
A vontade de um povo e dos seus dirigentes merece menção especial. Quando inteligentes, os visionários, são certamente interessantes, mas, muitas vezes, inúteis. Os melhores são os que prefiguram o encontro entre o possível e a liberdade de escolha. Quando de elevada qualidade filosófica, politica ou cultural, os visionários oferecem-nos uma inspiração fértil. Se autoproclamados iluminados, não passam de vendedores de sonhos.
Por que se fala tanto de incerteza, tema genérico desta Conferência? Porque o rumo é inseguro e mal definido, com certeza. Mas porquê? Porque existe uma crise de recursos. Porque as circunstâncias externas imprimem um clima de incerteza. Porque a Europa está ela própria em crise. Porque as nações e os Estados europeus procuram, sem o encontrar, o seu próprio rumo. Porque a globalização aumenta as exigências de definição da vontade de um povo. Porque o povo português e os seus dirigentes têm adiado o debate, a procura e a definição de um rumo. Porque, finalmente, se tem aprofundado a clivagem entre os dirigentes e o povo.
Curioso é o paradoxo actual segundo o qual o aumento da incerteza parece proporcional ao aumento das capacidades de previsão. Nunca como hoje tivemos ao nosso alcance tantos instrumentos de diagnóstico, medida e previsão. Nunca como hoje tivemos à disposição tantos métodos e técnicas de gestão e de planeamento, capazes até de lidar com o imprevisível. Mas também nunca como hoje vivemos tanto sob o signo da incerteza. Dependemos todos, cada vez mais, uns dos outros. A globalização trouxe uma autêntica cadeia de causas, efeitos e repercussões por inércia que fazem com que todos os povos sintam as consequências do que se passa em qualquer sítio do mundo. “Isto anda tudo ligado”: frase antiga e cliché habitual, que nunca foi tão verdade como agora.
Pode parecer paradoxal, mas é justamente porque penso que é difícil ou mesmo impossível prever o futuro ou traçar um rumo com elevado grau de probabilidade, que penso também que é nossa obrigação, cidadãos e dirigentes, procurar caminhos e debater possibilidades. Porque se trata de incerteza generalizada. Mas também porque é essa atitude que nos permite fazer melhores escolhas. Na verdade, o futuro é feito de miríades de decisões, individuais ou colectivas, tomadas todos os dias. São essas escolhas e essas decisões que, aparentemente inócuas ou sem alcance, acabam por formar vontades colectivas e sobretudo determinam a margem de liberdade que temos diante de nós. Apesar da beleza poética da fórmula, não acredito que “o caminho se faça caminhando”. Talvez seja verdade noutros domínios, noutras áreas, na literatura, nas artes ou nos sentimentos. Mas, no percurso colectivo de um povo, aumentam a liberdade e a segurança se conhecermos, a traços largos, o caminho e o itinerário que queremos delinear.
Olhando para o nosso país, nesta década que apenas começa e já se revela ser de enorme dificuldade, não me parece descabido enumerar algumas balizas que, sem serem dogmáticas, são aquelas que me parecem ser mais calhadas para a nossa liberdade individual e colectiva. Haverá outras escolhas, estas são as que proponho.
A Europa no centro dos nossos horizontes: eis o eixo central das linhas definidoras de um rumo possível. Todos os argumentos pesam nesse sentido. Desde os emigrantes, que foram a nossa primeira contribuição para a integração europeia, até à comunidade de legado e património. Tudo nos faz olhar para a Europa. Dela vieram princípios e tradições, do Cristianismo às “Luzes”, da democracia ao Estado social. Na Europa encontrámos refúgio, nos anos difíceis da revolução de 1975 e da descolonização desajeitadamente levada a cabo. Da Europa vieram também os principais estímulos para as grandes mudanças sociais, económicas e políticas dos anos sessenta a oitenta. Hoje, mesmo com a União Europeia em crise certa e em momento de provável transformação, os Portugueses não devem reagir com medo ou passividade, antes se devem empenhar em encontrar novas soluções no quadro europeu. Fora dele, talvez o isolamento e a pobreza esperem por nós. E provavelmente menos liberdade.
Ao lado da Europa, em complemento da Europa, olhemos para as comunidades portuguesas a viverem em três ou quatro continentes, nomeadamente na Europa, também. A nação portuguesa é de tal modo feita que as comunidades fazem parte integrante da cultura e do modo de viver. Uma política que as envolva no percurso colectivo não se faz por misericórdia ou nostalgia. Faz-se porque reforça a nação e a sua identidade. Esta última não é um devaneio cultural (e se fosse não haveria mal nisso...), é um factor de autonomia que aumenta a nossa liberdade.
Internamente, a equidade, a procura de uma maior equidade, deveria fazer parte do nosso horizonte. Por razões de vária ordem, carregamos, mais do que outros povos, um fardo de desigualdade excessiva. Há qualquer coisa na sociedade portuguesa, nos seus costumes e na sua história, nas estruturas sociais e na função da propriedade, nas relações humanas e sociais e na organização do Estado, que faz com que sejamos mais desiguais do que a maior parte dos países ocidentais. Ora, a equidade não é apenas um acto de solidariedade, misericórdia ou generosidade. É também, sabe-se cada dia melhor, um factor de coesão e de desenvolvimento. A equidade aumenta a participação dos povos, reforça o sentido de responsabilidade e estimula a recompensa e o mérito.
Para que a equidade tenha um significado, é necessário assegurar que a Justiça funcione e cumpra os seus deveres. O que, infelizmente, não é o caso entre nós. Por isso, a Justiça deveria estar no centro das prioridades nacionais. A Justiça portuguesa não se adaptou bem a uma sociedade aberta e democrática; a um tempo industrial, nem a uma sociedade da informação e conhecimento; ao mercado aberto e à globalização; a um regime constitucional de reconhecimento de direitos e deveres; a um Estado de Direito em desenvolvimento. A Justiça portuguesa ficou prisioneira de corpos profissionais poderosos, de tradições rurais e despóticas e de métodos burocráticos e autocráticos. Com tudo isso, é também a liberdade individual que fica prejudicada.
Ora, a liberdade individual num país como o nosso, de tradição paternalista ou autoritária, tem valor revolucionário. Vivemos décadas ou séculos em que o “interesse nacional”, interpretado por alguns e quase sempre equiparado ao “interesse do Estado”, se sobrepôs às liberdades individuais. Estas nunca foram fundadoras do Estado. Os direitos de grupos e as prerrogativas de corporações e famílias, sem falar nos interesses do Estado e do poder político, levaram sempre a melhor sobre a liberdade individual. Triste sina a de um povo onde o mero termo de “liberal” é mal visto e negativamente avaliado!
A cultura do povo deveria estar no topo das nossas urgências. Não falo da “cultura popular”, indispensável, rica e persistente. Para essa, não é preciso elaborar políticas públicas. Basta deixá-la viver, respeitá-la e não a ferir. É à “alta cultura” que me refiro. O termo é estranho, está mesmo hoje condenado por elitista. Mas foi erro histórico. Essa cultura é o legado comum da humanidade, dos povos ocidentais no nosso caso. Essa cultura, cuja permanência e sobrevivência não estiveram em causa durante séculos, está hoje arrumada em bibliotecas e afastada das escolas e das universidades. A formação cultural é o mais sério instrumento de libertação e de igualdade. Mais do que a formação técnica. Os Portugueses, por séculos de pobreza, de analfabetismo e desigualdade, tiveram reduzido acesso à cultura. Hoje, as escolas, por obsessão profissional, desdenham a cultura, abandonam as artes e marginalizam a erudição.
Pela cultura, popular e erudita, deveremos reafirmar os traços essenciais de uma identidade capaz de ser uma garantia superior e efectiva dos direitos e da liberdade de cada um. Substituir a mítica grandeza nacional pela liberdade e dignidade do cidadão. O próprio do Príncipe ou da República, na sua mais nobre acepção, consiste na defesa e na protecção dos cidadãos. Em termos actuais, o próprio do Estado, em tempos de globalização, é a defesa e a protecção dos cidadãos. E a identidade é um factor de liberdade.
A valorização do espaço público é princípio que deveria fazer parte de um novo credo. O espaço público onde se vive e passeia. O espaço pública onde se trabalha e conversa. O espaço público onde se discute e confraterniza. Os jardins e as ruas compõem esse espaço público, tal como as instituições, a paisagem, as escolas, os locais de arte e espectáculos e a televisão. As cidades são, muito especialmente na nossa civilização, o espaço público por definição. Ora, em Portugal, as cidades são frequentemente pouco acolhedoras, desconfortáveis, por vezes violentas. As cidades são mal organizadas e deixadas ao abandono e ao lixo. Respeitar e enriquecer o espaço público como se fosse nosso é valor que a todos deveria guiar. É sobretudo exemplo que as autoridades autárquicas deveriam dar todos os dias.
O desenvolvimento e a consolidação de uma sociedade plural são orientações para o nosso futuro. O que implica desenvolver as condições de uma sociedade onde a exclusão seja cada vez mais difícil. Não apenas da exclusão social, que tanto vigora em Portugal como noutros países ocidentais. Há na verdade fenómenos de exclusão mais antigos, talvez mais graves, que têm vindo a ser afastados do nosso país. Portugal teve uma longa experiência de exclusão política, religiosa, étnica e cultural. Árabes, judeus e católicos; sacerdotes, republicanos e monárquicos; liberais, democratas, socialistas e comunistas; sindicalistas e capitalistas; todos estes foram já uma, duas, três vezes perseguidos, excluídos e até expulsos. Hoje, não é o caso. É um dos raros momentos na época contemporânea em que parece haver lugar para todos. Não é pouca coisa. Este novo pluralismo da sociedade é um bem raro que devemos acarinhar e proteger. E não se pense que se trata de voto piedoso e eterno. Com efeito, em tempos de crise duradoira, é possível que forças centrífugas e contraditórias exerçam pressão contra este pluralismo recente.
Outro princípio, finalmente, o do respeito pela propriedade e pelo investimento. Se olharmos com lucidez, sempre a propriedade foi mal vista e mal encarada. Um dos obstáculos ao desenvolvimento sempre foi esta atávica vontade de conter a propriedade, de dominar o investimento e de condenar as actividades lucrativas. Em dois séculos, perdeu-se propriedade e investimento, por actos de pura cupidez política ou pessoal. A falta de certeza e de segurança na actividade económica sempre nos afligiu. Estimular, promover, atrair e garantir a propriedade e o investimento das pessoas, das famílias e das empresas é outra das revoluções que nos esperam.
Portugal deveria distinguir-se pelo espaço público, pela humanização das instituições, pela cultura do seu povo, pela equidade que promove, pelo serviço de saúde que defende, pela escola de mérito que cultiva, pela identidade que preserva ao serviço da liberdade de cada um. Mais do que a força, a glória e a competitividade, é a humanidade dos costumes e das instituições que nos deveria distinguir.
Eis que parecem desejos, mais do que linhas de rumo. Estou consciente disso. Mas não esqueçamos que são votos informados: na verdade, em todas estas prioridades, da liberdade individual ao cuidado pelo espaço público, está inscrita a vontade de contrariar tendências longas na sociedade portuguesa. A liberdade individual, por exemplo, não tem antiga tradição entre nós, quando comparada com o paternalismo ou o despotismo, esclarecido ou não. A dependência dos cidadãos perante os grandes poderes, nomeadamente o Estado, tem sido tradicionalmente uma constante da nossa história.
Com igual permanência se deve referir a reduzida participação dos cidadãos na vida colectiva e no espaço público. Os Portugueses sofrem de uma falta atávica de informação. O segredo de Estado tem uma constância estranha. O método do facto consumado parece ter conquistado dirigentes políticos de várias crenças, idades e convicções. A situação actual é paradigmática. Apesar dos progressos da sociedade aberta e da multiplicação de canais e vias de informação, os Portugueses sentem e sabem que não conhecem, a tempo, o teor dos problemas que nos afligem. A evolução da dívida nacional e da dívida pública, por exemplo, foi escondida dos cidadãos durante anos. Ainda hoje é difícil, se não impossível, saber as causas e as origens da aceleração brutal do endividamento. A política de austeridade que se seguiu, inevitável em muitos dos seus vectores, está a ser imposta num clima de débil informação. Ora, esta não é evidentemente um fim em si próprio. A informação produz conhecimento e liberdade, mas também participação e envolvimento. O que os poderes públicos estão a exigir dos Portugueses exige um esforço ilimitado de explicação e uma tentativa sincera e honesta de chamar os cidadãos a assumir as suas responsabilidades. Além de tudo, os poderes públicos, mesmo em tempo de crise grave, habituaram-se a apenas privilegiar a divisão e o método adversativo de conduzir a política. Nas negociações internacionais e europeias em que Portugal se tem empenhado, pela força das circunstâncias, nos últimos meses, quase sempre imperou o factor divisor entre as forças políticas. A certo momento, pensou-se que um esforço de unidade tinha dado resultados. Infelizmente, depressa se verificou que os competidores e adversários regressavam, com toda a sua energia à oposição, à contradição e à indisponibilidade para a informação e a negociação. Ora, na actualidade, tanto nacional como internacional, é fundamental que um esforço comum se sobreponha ao bairrismo partidário.
Em conclusão: conhecemos o legado histórico e estamos ao corrente das enormes dificuldades impostas pelas circunstâncias internas e externas. Mas a vontade do povo exprime-se pouco e mal. E as decisões dos dirigentes políticos e das elites sociais são mal conhecidas, mal preparadas e pouco comunicadas. Em todo o caso, pouco ou nada participadas. Dessa maneira, podemos esperar passividade ou indiferença, mas também revolta ou contrariedade. Desenhar um rumo, sem a tentação visionária, exige coesão e participação. Estas constituem hoje talvez os mais sérios défices da sociedade portuguesa.
(*) - IV Conferência Internacional do Funchal
Funchal, 4 e 5 de Novembro de 2011
quarta-feira, 9 de novembro de 2011
domingo, 6 de novembro de 2011
Dia da Universidade
.
-
Universidade Nova de Lisboa
Lisboa, 2 de Novembro de 2011
VIVEMOS tempos difíceis. Muito difíceis. Eis um lugar-comum a que, por mais que seja repetido, nunca nos habituaremos, nem nunca ficaremos indiferentes... Ao contrário dos grandes optimistas, não acredito que o próprio da crise seja sempre transformar-se em oportunidade. Às vezes sim, por vezes não. Mas, ao contrário dos pessimistas, não penso que os tempos críticos recomendem a paralisia, nem que não se possa aproveitar para pensar, repensar e imaginar.
Seria fácil, hoje, nesta cerimónia, tomar a defesa da universidade e chamar a atenção de todos, a começar pelas autoridades, para a necessidade de pensar duas vezes antes de proceder a cortes e reduções de meios, recursos e financiamento. Não sei se seria eficaz, mas seria fácil. No entanto, tal atitude deixar-me-ia sempre perplexo perante uma inquietação maior. Qual a importância relativa de cada sector, cada área, cada instituição, cada grupo humano ou cada problema? Num altura em que cortar, reduzir e poupar são as urgências, qual é a escala de importância? Qual é a prioridade relativa? A universidade é mais urgente e importante que o hospital? O idoso é mais sensível do que o adulto activo? O jardim-escola é prioritário, em detrimento da pensão de reforma? O desempregado merece mais cuidado que o engenheiro produtivo? O que pode ou deve esperar: a dívida, o crescimento ou a equidade? Eis dilemas políticos e morais a que não me compete responder, nem é este o local apropriado.
De qualquer maneira, as respostas que contam são as das autoridades responsáveis e as dos representantes do povo. Mas não me fico por aí. Também devem contar as respostas dos corpos organizados. Por isso mesmo, penso que as universidades portuguesas teriam um papel determinante, fértil e exemplar, se conseguissem reflectir, em comum, à sua estratégia e ao seu futuro e se conseguissem, com credibilidade e razão fundamentada, apresentar ao governo e ao Parlamento um plano a médio e longo prazo, perante o qual as instituições universitárias e as políticas pudessem comprometer-se. Diante de todos. Com o povo como testemunha. Num tempo em que as divisões se acentuam e as contradições florescem, seria um formidável exemplo para todos o esforço feito em comum pelas universidades a fim de contribuir para decisões informadas e razoáveis. Num tempo em que tudo parece ser feito para o curto prazo, para o imediato, sem pensar no futuro, seria um excelente precedente e um muito bom exemplo.
Em dia festivo da universidade, além felicitar os que partem, saudar os que ficam e acolher os que chegam, permito-me convidar-vos a reflectir uns minutos na missão da universidade. Não é mais uma repetição, nem, diante dos graves problemas que se nos deparam, uma fuga para a frente. Em realidade, esta discussão tarda em Portugal. E, aliás, em boa parte da Europa. Se lermos a literatura actual e consultarmos todos os meios de comunicação, a começar pela Internet, depressa verificaremos que, em muitos países, incluindo os que mais se notabilizam pela excelência académica, a discussão sobre a missão da universidade e sobre o seu horizonte futuro está cada vez mais presente. Na verdade, as últimas décadas, entre a explosão demográfica, a popularização do novo termo de “empregabilidade” e a reforma dita de Bolonha, a universidade aprendeu a conviver com as crises e a não se inquietar com “questões abstractas”. O resultado não foi, como se julgou, a criação de uma universidade pragmática, aberta ao mundo, flexível e capaz de responder às aspirações das classes médias. Foi, antes pelo contrário, o da quase liquidação da cabeça pensante das universidades. Nestas, há muita gente que pensa, com certeza. Mas a universidade não se pensa. Preocupada com a procura de recursos e sob a enorme pressão de acolher cada vez maiores massas de pessoas, a universidade foi adiando a reflexão. Hoje, entre a tesoura e o garrote, parece ainda mais difícil pensar a longo prazo. Com uma agravante: os poderes públicos não se interessaram. Governo e Parlamento têm estado estranhamente ausentes nesta reflexão. Ocupados obsessivamente com a gestão de problemas e de finanças, descuram o horizonte e o caminho. Ora, tal como a universidade portuguesa – melhor seria dizer as universidades – cresceu nas últimas décadas, há muito se impõe uma reflexão séria sobre as suas funções e os seus objectivos.
Que universidade queremos dentro de duas ou três décadas? Esta é a pergunta! Actualmente, o que parece urgente e vital são as dificuldades, a crise, a massificação, a precariedade, a miséria de recursos financeiros e a “fuga de cérebros”. Será mesmo isso que é vital? Urgente, talvez seja. Vital, duvido. Verdadeiramente essencial é a resposta à pergunta inicial. Que universidades queremos ter dentro de duas ou três décadas? Não tenhamos ilusões: as pequenas decisões de hoje, embora não pareça, vão moldar as grandes escolhas. O pior, neste processo, é quando não se está consciente desta relação entre presente e futuro.
O exercício que gostava de vos propor consiste em rever aquelas que poderiam ser as missões do futuro. Não todas, mas algumas que decidi privilegiar. A da cultura. A da ciência. E a da cidadania. Poderá haver outras, com certeza, como sejam o ensino e a formação profissional. Mas, se as excluo nesta abordagem, é justamente porque penso que são de menor importância do que aquelas três que referi acima.
A missão da ciência, em primeiro lugar. Parece um cliché. Um lugar-comum. Ou uma porta aberta. Não é. Em Portugal, ao longo das últimas duas décadas, fez-se um formidável esforço de desenvolvimento da ciência. Cresceram as instituições, os cientistas, as bolsas, os projectos e os graus. Como cresceram os artigos e as publicações, embora menos as patentes. Cresceu também a rede internacional na qual Portugal participa. Foram talvez os vinte anos de maior desenvolvimento da ciência, no nosso país, nos últimos séculos. Mas, tenhamos de reconhecer: tudo isso foi feito fora, em detrimento ou contra as universidades. Foi criado um “universo paralelo”. Uma espécie de apartheid. Para a ciência, encontrou-se tudo: recursos, pessoal, bolsas, projectos, contactos, critérios, avaliação, severidade, escrutínio... De nada ou quase nada disso beneficiaram as universidades. Bem sei que muitos dos cientistas e das instituições funcionavam, virtual ou aparentemente, nas universidades. Mas eram simples inquilinos. Enquanto na ciência a adrenalina reinava, no ensino a pobreza crescia. Formaram-se aqui e ali pequenos guetos de prosperidade, rigor e modernidade que pouca influência terão tido sobre o corpo integral das instituições, sobre o ensino em especial.
Esta realidade merece evidentemente análise cuidadosa. É minha convicção que a reforma da universidade e do ensino já não é possível sem uma alteração radical de estratégia. A ciência tem de regressar à universidade e tem mesmo de comandar a definição da missão para o futuro e da respectiva estratégia. É, aliás, uma discussão antiga que o nosso país abafou ou quis evitar. Já nas décadas de cinquenta e sessenta vários professores, a começar por Orlando Ribeiro, afirmavam, contra paredes de silêncio, que a primeira missão da universidade é a busca da verdade, isto é, a ciência, sendo que o ensino é um meio para atingir esse fim. A universidade tem de tomar ou retomar o comando da ciência dentro das suas portas. Tem de saber e ter meios para organizar a investigação e o desenvolvimento de modo integrado, a fim de que todos beneficiem, investigadores, professores e estudantes. As universidades têm de ser responsáveis pela sua ciência!
A democratização da instrução e o acesso de massas às escolas superiores vieram tornar essa discussão ainda mais urgente. O ensino universitário criou todas as ilusões. Ou delas sofreu. A ilusão igualitária foi uma delas. Pelo acesso à universidade, a sociedade seria transformada, a mobilidade garantida e a igualdade assegurada. O acesso à universidade passou a ser um direito de todos os cidadãos. A selecção e o mérito foram moralmente condenados e politicamente denunciados. A ilusão profissional foi outra. A universidade teria como missão preparar os jovens para o exercício de uma profissão. Tornou-se um lugar-comum dizer que as universidades devem preparar para a profissão e o emprego. Os estudos politécnicos, cuja missão era exactamente essa, pouco mais fizeram do que copiar, em piores condições, as universidades. A empregabilidade transformou-se num dos principais critérios de avaliação. A especialização profissional foi desejada e cultivada. Inventaram-se títulos, áreas, diplomas e cursos sem critério nem sensatez, sempre à procura de saídas profissionais de oportunidade duvidosa e expediente fácil. A missão científica da universidade, a permanente procura da verdade e a incansável tentativa de compreender e explicar, foi secundarizada.
A missão da cultura, em segundo lugar. Não receio exagerar se afirmar que as universidades são, deveriam ser, o mais importante repositório de cultura da humanidade. Não só depósito ou património. Mas também fonte de cultura, de desenvolvimento e de criação. Da cultura científica, da cultura humanística e das artes. Há cultura sem universidades, com certeza. Mas universidade sem cultura é um absurdo. Porquê referir esta que parece uma evidência? Porque as últimas décadas reduziram e subestimaram o papel das universidades na cultura. Esta foi considerada dispendiosa, acessória, luxuosa, elitista e até inútil. O primado profissional e prático invadiu os auditórios, as salas e as bibliotecas. Até as associações de estudantes se afastaram da cultura. As escolas vocacionadas para as artes tornaram-se parentes pobres. A cultura geral e a erudição, que deveriam estar presentes em todas as disciplinas, ganharam os tristes estatutos de inutilidade socialmente condenável ou de variante facultativa. As aspirações, certamente nobres e legítimas, à democratização, ao igualitarismo e à vocação profissional consideraram a cultura dispensável. Erro histórico! O que mais distingue socialmente, o que mais discrimina e o que mais desigualdade produz é justamente o acesso à cultura geral, ao património da humanidade e à erudição.
As universidades têm hoje um papel medíocre na aquisição da cultura e na criação cultural. Na música e no teatro, nas artes plásticas, no cinema e na fotografia, na poesia e na literatura, as universidades têm um lugar menor. Na história da arte e da cultura, na defesa do património, na reflexão filosófica sobre o mundo antigo e presente e na procura de horizontes para o nosso futuro colectivo, as universidades parecem ausentes, a não ser, eventualmente, nos departamentos específicos. O cruzamento entre disciplinas diferentes e ciências distantes umas das outras ou a junção entre humanidades, ciências exactas e da natureza e tecnologias foi subalternizado a favor de um esforço mais especializado e dirigido. A obsessão produtiva do ensino e do grau parece ter afastado das prioridades a ideia universal e culta da universidade, cuja formação humanista, integral e integrada, é um fim em si próprio. Não será este o momento, depois da explosão demográfica, da multiplicação institucional, da democratização quase sem critério, da fragmentação disciplinar e das reformas tecnocráticas ditas de Bolonha, não será este o momento, repito, para repensar, rever e corrigir?
A terceira missão é a do empenho das universidades no bem comum. Por outras palavras, a sua participação na vida pública e o seu envolvimento no espaço público. Tem havido, recentemente, sinais de que algo pode mudar. Perante as crises financeiras e económicas, várias iniciativas, com origem universitária, revelaram alguma preocupação de académicos com a discussão dos problemas e a procura de soluções. São bons sinais, mas insuficientes. Na verdade, as universidades têm uma dívida perante a população. Há várias maneiras de a pagar. Uma, a mais evidente, traduz-se em serviço pedagógico e formativo: numa palavra, no ensino. Outra, essencial, toma a forma de investigação. Outra ainda, descurada, é a cultura. Mas há uma quarta, nem sempre evidente: a da contribuição para o estudo, o diagnóstico e a procura de soluções para todos os problemas colectivos, da saúde ao urbanismo, da segurança social à economia e da tecnologia à organização do Estado.
Na verdade, nenhum problema do país deveria ser estranho às universidades. Estas deveriam, com uma preocupação obsessiva de independência e de neutralidade partidária, interessar-se por tudo o que é humano e social, por tudo o que é colectivo. Deveriam, desde logo, fomentar o debate e estimular a participação. Pense-se só nos últimos anos. Processos e decisões tão importantes como os do planeamento urbanístico, da organização das cidades, da estratégia energética, da edificação do aeroporto de Lisboa ou da construção das ferrovias de alta velocidade, não teriam ganho tempo, recursos, clareza e rigor se as universidades tivessem sido chamadas a colaborar? Ou se elas, por iniciativa própria, se tivessem empenhado na discussão de projectos tão decisivos para o nosso futuro colectivo? E outras questões de futuro, como a sustentabilidade da segurança social, a organização do serviço nacional de saúde e a reforma da Justiça, não terão a ganhar em qualidade, em precisão, em transparência e em eficácia com a participação empenhada das universidades? Não poderão estas transformar-se nos espaços de liberdade por excelência? Nos locais de debate aberto ao país? Nas autoras de projectos desinteressados em que os principais critérios sejam a liberdade, a independência e o rigor ao serviço do bem comum?
Sabemos que os universitários não são bacteriologicamente puros nem ideologicamente inertes. São pessoas e cidadãos como toda a gente. Mas o clima universitário, o ambiente académico e o “ethos” científico fazem destas instituições os locais potencialmente privilegiados para fomentar a análise rigorosa, o debate sério, a crítica severa e o pensamento livre. Em tempos tão difíceis como aqueles que vivemos, as universidades não se podem dar ao luxo de perder a oportunidade para pagar a sua dívida ao país e dar o exemplo do que de melhor podem fazer: estudar e pensar!
Seria fácil, hoje, nesta cerimónia, tomar a defesa da universidade e chamar a atenção de todos, a começar pelas autoridades, para a necessidade de pensar duas vezes antes de proceder a cortes e reduções de meios, recursos e financiamento. Não sei se seria eficaz, mas seria fácil. No entanto, tal atitude deixar-me-ia sempre perplexo perante uma inquietação maior. Qual a importância relativa de cada sector, cada área, cada instituição, cada grupo humano ou cada problema? Num altura em que cortar, reduzir e poupar são as urgências, qual é a escala de importância? Qual é a prioridade relativa? A universidade é mais urgente e importante que o hospital? O idoso é mais sensível do que o adulto activo? O jardim-escola é prioritário, em detrimento da pensão de reforma? O desempregado merece mais cuidado que o engenheiro produtivo? O que pode ou deve esperar: a dívida, o crescimento ou a equidade? Eis dilemas políticos e morais a que não me compete responder, nem é este o local apropriado.
De qualquer maneira, as respostas que contam são as das autoridades responsáveis e as dos representantes do povo. Mas não me fico por aí. Também devem contar as respostas dos corpos organizados. Por isso mesmo, penso que as universidades portuguesas teriam um papel determinante, fértil e exemplar, se conseguissem reflectir, em comum, à sua estratégia e ao seu futuro e se conseguissem, com credibilidade e razão fundamentada, apresentar ao governo e ao Parlamento um plano a médio e longo prazo, perante o qual as instituições universitárias e as políticas pudessem comprometer-se. Diante de todos. Com o povo como testemunha. Num tempo em que as divisões se acentuam e as contradições florescem, seria um formidável exemplo para todos o esforço feito em comum pelas universidades a fim de contribuir para decisões informadas e razoáveis. Num tempo em que tudo parece ser feito para o curto prazo, para o imediato, sem pensar no futuro, seria um excelente precedente e um muito bom exemplo.
Em dia festivo da universidade, além felicitar os que partem, saudar os que ficam e acolher os que chegam, permito-me convidar-vos a reflectir uns minutos na missão da universidade. Não é mais uma repetição, nem, diante dos graves problemas que se nos deparam, uma fuga para a frente. Em realidade, esta discussão tarda em Portugal. E, aliás, em boa parte da Europa. Se lermos a literatura actual e consultarmos todos os meios de comunicação, a começar pela Internet, depressa verificaremos que, em muitos países, incluindo os que mais se notabilizam pela excelência académica, a discussão sobre a missão da universidade e sobre o seu horizonte futuro está cada vez mais presente. Na verdade, as últimas décadas, entre a explosão demográfica, a popularização do novo termo de “empregabilidade” e a reforma dita de Bolonha, a universidade aprendeu a conviver com as crises e a não se inquietar com “questões abstractas”. O resultado não foi, como se julgou, a criação de uma universidade pragmática, aberta ao mundo, flexível e capaz de responder às aspirações das classes médias. Foi, antes pelo contrário, o da quase liquidação da cabeça pensante das universidades. Nestas, há muita gente que pensa, com certeza. Mas a universidade não se pensa. Preocupada com a procura de recursos e sob a enorme pressão de acolher cada vez maiores massas de pessoas, a universidade foi adiando a reflexão. Hoje, entre a tesoura e o garrote, parece ainda mais difícil pensar a longo prazo. Com uma agravante: os poderes públicos não se interessaram. Governo e Parlamento têm estado estranhamente ausentes nesta reflexão. Ocupados obsessivamente com a gestão de problemas e de finanças, descuram o horizonte e o caminho. Ora, tal como a universidade portuguesa – melhor seria dizer as universidades – cresceu nas últimas décadas, há muito se impõe uma reflexão séria sobre as suas funções e os seus objectivos.
Que universidade queremos dentro de duas ou três décadas? Esta é a pergunta! Actualmente, o que parece urgente e vital são as dificuldades, a crise, a massificação, a precariedade, a miséria de recursos financeiros e a “fuga de cérebros”. Será mesmo isso que é vital? Urgente, talvez seja. Vital, duvido. Verdadeiramente essencial é a resposta à pergunta inicial. Que universidades queremos ter dentro de duas ou três décadas? Não tenhamos ilusões: as pequenas decisões de hoje, embora não pareça, vão moldar as grandes escolhas. O pior, neste processo, é quando não se está consciente desta relação entre presente e futuro.
O exercício que gostava de vos propor consiste em rever aquelas que poderiam ser as missões do futuro. Não todas, mas algumas que decidi privilegiar. A da cultura. A da ciência. E a da cidadania. Poderá haver outras, com certeza, como sejam o ensino e a formação profissional. Mas, se as excluo nesta abordagem, é justamente porque penso que são de menor importância do que aquelas três que referi acima.
A missão da ciência, em primeiro lugar. Parece um cliché. Um lugar-comum. Ou uma porta aberta. Não é. Em Portugal, ao longo das últimas duas décadas, fez-se um formidável esforço de desenvolvimento da ciência. Cresceram as instituições, os cientistas, as bolsas, os projectos e os graus. Como cresceram os artigos e as publicações, embora menos as patentes. Cresceu também a rede internacional na qual Portugal participa. Foram talvez os vinte anos de maior desenvolvimento da ciência, no nosso país, nos últimos séculos. Mas, tenhamos de reconhecer: tudo isso foi feito fora, em detrimento ou contra as universidades. Foi criado um “universo paralelo”. Uma espécie de apartheid. Para a ciência, encontrou-se tudo: recursos, pessoal, bolsas, projectos, contactos, critérios, avaliação, severidade, escrutínio... De nada ou quase nada disso beneficiaram as universidades. Bem sei que muitos dos cientistas e das instituições funcionavam, virtual ou aparentemente, nas universidades. Mas eram simples inquilinos. Enquanto na ciência a adrenalina reinava, no ensino a pobreza crescia. Formaram-se aqui e ali pequenos guetos de prosperidade, rigor e modernidade que pouca influência terão tido sobre o corpo integral das instituições, sobre o ensino em especial.
Esta realidade merece evidentemente análise cuidadosa. É minha convicção que a reforma da universidade e do ensino já não é possível sem uma alteração radical de estratégia. A ciência tem de regressar à universidade e tem mesmo de comandar a definição da missão para o futuro e da respectiva estratégia. É, aliás, uma discussão antiga que o nosso país abafou ou quis evitar. Já nas décadas de cinquenta e sessenta vários professores, a começar por Orlando Ribeiro, afirmavam, contra paredes de silêncio, que a primeira missão da universidade é a busca da verdade, isto é, a ciência, sendo que o ensino é um meio para atingir esse fim. A universidade tem de tomar ou retomar o comando da ciência dentro das suas portas. Tem de saber e ter meios para organizar a investigação e o desenvolvimento de modo integrado, a fim de que todos beneficiem, investigadores, professores e estudantes. As universidades têm de ser responsáveis pela sua ciência!
A democratização da instrução e o acesso de massas às escolas superiores vieram tornar essa discussão ainda mais urgente. O ensino universitário criou todas as ilusões. Ou delas sofreu. A ilusão igualitária foi uma delas. Pelo acesso à universidade, a sociedade seria transformada, a mobilidade garantida e a igualdade assegurada. O acesso à universidade passou a ser um direito de todos os cidadãos. A selecção e o mérito foram moralmente condenados e politicamente denunciados. A ilusão profissional foi outra. A universidade teria como missão preparar os jovens para o exercício de uma profissão. Tornou-se um lugar-comum dizer que as universidades devem preparar para a profissão e o emprego. Os estudos politécnicos, cuja missão era exactamente essa, pouco mais fizeram do que copiar, em piores condições, as universidades. A empregabilidade transformou-se num dos principais critérios de avaliação. A especialização profissional foi desejada e cultivada. Inventaram-se títulos, áreas, diplomas e cursos sem critério nem sensatez, sempre à procura de saídas profissionais de oportunidade duvidosa e expediente fácil. A missão científica da universidade, a permanente procura da verdade e a incansável tentativa de compreender e explicar, foi secundarizada.
A missão da cultura, em segundo lugar. Não receio exagerar se afirmar que as universidades são, deveriam ser, o mais importante repositório de cultura da humanidade. Não só depósito ou património. Mas também fonte de cultura, de desenvolvimento e de criação. Da cultura científica, da cultura humanística e das artes. Há cultura sem universidades, com certeza. Mas universidade sem cultura é um absurdo. Porquê referir esta que parece uma evidência? Porque as últimas décadas reduziram e subestimaram o papel das universidades na cultura. Esta foi considerada dispendiosa, acessória, luxuosa, elitista e até inútil. O primado profissional e prático invadiu os auditórios, as salas e as bibliotecas. Até as associações de estudantes se afastaram da cultura. As escolas vocacionadas para as artes tornaram-se parentes pobres. A cultura geral e a erudição, que deveriam estar presentes em todas as disciplinas, ganharam os tristes estatutos de inutilidade socialmente condenável ou de variante facultativa. As aspirações, certamente nobres e legítimas, à democratização, ao igualitarismo e à vocação profissional consideraram a cultura dispensável. Erro histórico! O que mais distingue socialmente, o que mais discrimina e o que mais desigualdade produz é justamente o acesso à cultura geral, ao património da humanidade e à erudição.
As universidades têm hoje um papel medíocre na aquisição da cultura e na criação cultural. Na música e no teatro, nas artes plásticas, no cinema e na fotografia, na poesia e na literatura, as universidades têm um lugar menor. Na história da arte e da cultura, na defesa do património, na reflexão filosófica sobre o mundo antigo e presente e na procura de horizontes para o nosso futuro colectivo, as universidades parecem ausentes, a não ser, eventualmente, nos departamentos específicos. O cruzamento entre disciplinas diferentes e ciências distantes umas das outras ou a junção entre humanidades, ciências exactas e da natureza e tecnologias foi subalternizado a favor de um esforço mais especializado e dirigido. A obsessão produtiva do ensino e do grau parece ter afastado das prioridades a ideia universal e culta da universidade, cuja formação humanista, integral e integrada, é um fim em si próprio. Não será este o momento, depois da explosão demográfica, da multiplicação institucional, da democratização quase sem critério, da fragmentação disciplinar e das reformas tecnocráticas ditas de Bolonha, não será este o momento, repito, para repensar, rever e corrigir?
A terceira missão é a do empenho das universidades no bem comum. Por outras palavras, a sua participação na vida pública e o seu envolvimento no espaço público. Tem havido, recentemente, sinais de que algo pode mudar. Perante as crises financeiras e económicas, várias iniciativas, com origem universitária, revelaram alguma preocupação de académicos com a discussão dos problemas e a procura de soluções. São bons sinais, mas insuficientes. Na verdade, as universidades têm uma dívida perante a população. Há várias maneiras de a pagar. Uma, a mais evidente, traduz-se em serviço pedagógico e formativo: numa palavra, no ensino. Outra, essencial, toma a forma de investigação. Outra ainda, descurada, é a cultura. Mas há uma quarta, nem sempre evidente: a da contribuição para o estudo, o diagnóstico e a procura de soluções para todos os problemas colectivos, da saúde ao urbanismo, da segurança social à economia e da tecnologia à organização do Estado.
Na verdade, nenhum problema do país deveria ser estranho às universidades. Estas deveriam, com uma preocupação obsessiva de independência e de neutralidade partidária, interessar-se por tudo o que é humano e social, por tudo o que é colectivo. Deveriam, desde logo, fomentar o debate e estimular a participação. Pense-se só nos últimos anos. Processos e decisões tão importantes como os do planeamento urbanístico, da organização das cidades, da estratégia energética, da edificação do aeroporto de Lisboa ou da construção das ferrovias de alta velocidade, não teriam ganho tempo, recursos, clareza e rigor se as universidades tivessem sido chamadas a colaborar? Ou se elas, por iniciativa própria, se tivessem empenhado na discussão de projectos tão decisivos para o nosso futuro colectivo? E outras questões de futuro, como a sustentabilidade da segurança social, a organização do serviço nacional de saúde e a reforma da Justiça, não terão a ganhar em qualidade, em precisão, em transparência e em eficácia com a participação empenhada das universidades? Não poderão estas transformar-se nos espaços de liberdade por excelência? Nos locais de debate aberto ao país? Nas autoras de projectos desinteressados em que os principais critérios sejam a liberdade, a independência e o rigor ao serviço do bem comum?
Sabemos que os universitários não são bacteriologicamente puros nem ideologicamente inertes. São pessoas e cidadãos como toda a gente. Mas o clima universitário, o ambiente académico e o “ethos” científico fazem destas instituições os locais potencialmente privilegiados para fomentar a análise rigorosa, o debate sério, a crítica severa e o pensamento livre. Em tempos tão difíceis como aqueles que vivemos, as universidades não se podem dar ao luxo de perder a oportunidade para pagar a sua dívida ao país e dar o exemplo do que de melhor podem fazer: estudar e pensar!
-
Universidade Nova de Lisboa
Lisboa, 2 de Novembro de 2011
Subscrever:
Mensagens (Atom)