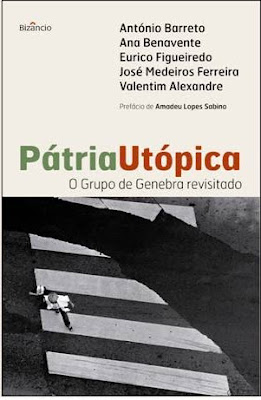Parece que as danças de salão têm um êxito formidável na Rússia democrática. Diz-se que também antes. Cartier Bresson, por exemplo, fez algumas fotografias formidáveis de danças de salão em associações recreativas. Quando por lá andei, nos anos sessenta, viam-se alguns exemplos. Muito mais modestos. Agora, neste hotel de luxo, há bailes com frequência. A nova burguesia russa e as classes médias fazem filas para poder entrar. E é tudo muito organizado. Nas vésperas, há horas e horas de treino. Aqui, era o ensaio geral para o dia seguinte. As senhoras já se vestiam a rigor.
domingo, 25 de dezembro de 2011
quarta-feira, 21 de dezembro de 2011
Novo ciclo: a incerteza
.
«Correio da Manhã» de 18 Dez 11
COMO QUASE sempre na vida, os ciclos terminam antes que as pessoas se dêem conta. Algures em meados da década de noventa, os tempos da fartura e da prosperidade tinham acabado. Desde então, o crescimento estagnou, primeiro, desceu para níveis negativos, depois. Iniciou-se então uma época “entre ciclos”, durante a qual se mantiveram as ilusões e a euforia, agora condimentada com doses inultrapassáveis de demagogia. Vivia-se como se tudo fosse ainda possível, como se os cofres do Estado, das empresas e das famílias estivessem recheados. Como se ainda houvesse agricultura, floresta, pescas e indústria. Como se o investimento estrangeiro continuasse a procurar a nossa economia. Em poucas palavras, como se progresso interminável estivesse garantido. O Estado prometia e pagava. As famílias gastavam. A banca aproveitava. As empresas endividavam-se. O financiamento externo não cessava. Os avisos que alguns deram não tinham sequer eco, foram considerados sinais de senilidade e pessimismo. O futuro continuava radioso.
A crise internacional e o colapso nacional mostraram a dimensão inacreditável do desastre e da demagogia. A fragilidade nacional surgiu em proporções inesperadas. A produção nacional era insuficiente, o consumo não parava de crescer. O défice público aumentava sem travões nem sensatez. A dívida externa e interna, sobretudo a primeira, atingia níveis dramáticos. A balança comercial afundava-se. Os emigrantes enviavam menos remessas e os imigrantes mandavam mais. O investimento externo reduzia-se. A expatriação de capitais aumentava. A deslocalização de empresas acelerava. Passámos a viver em desequilíbrio crescente e à custa dos credores. O ataque à dívida soberana resultou imediatamente, não por efeito de conspirações malignas, mas em consequência de uma vulnerabilidade total. O país, o Estado, a banca, muitas empresas e muitas famílias faliram. A assistência financeira externa foi indispensável. Começou a viver-se um novo ciclo que ainda não tem nome, mas cujos contornos são já conhecidos. A nova realidade do desemprego, da quase falência do Estado social, da falta de competitividade, da austeridade e do crescimento insuportável dos impostos veio para ficar. Iniciámos um longo período de crescimento muito baixo ou nulo. As oportunidades serão cada vez menos. A emigração será maior.
Há muita gente que não acredita neste brando diagnóstico. Como não acreditou, durante década e meia, nos sinais de desgoverno e de decadência. Mas a vida acabará por impor a sua lei e a força da realidade. Tão cedo, antes de vários anos, os Portugueses não voltarão a ter os níveis de rendimento, de bem-estar e de desafogo que conheceram, de modo crescente, durante duas ou três décadas. As classes médias perderão algo que tinham, trabalhadores e classes mais desfavorecidas sentirão apertos maiores e apoios sociais menores. Na melhor das hipóteses, com muito trabalho, com um enorme esforço de reorganização do Estado e das finanças públicas e com uma imensa acção de atracção do investimento externo, os Portugueses terão, dentro de cinco a dez anos, as primeiras impressões de um melhoramento real das suas vidas.
Entretanto, as consequências políticas desta situação tornaram-se visíveis ou previsíveis. O Parlamento nacional encontra-se marginalizado e sem regresso. A política nacional está dependente e condicionada nos mais ínfimos pormenores. A Comissão Europeia foi espatifada. O Parlamento Europeu foi confirmado na sua mirífica irrelevância. As instituições europeias estão à mercê das duas grandes potenciais regionais e dos grandes grupos financeiros multinacionais. Partidos e sindicatos europeus brilham pela sua ausência. As empresas europeias põem-se ao abrigo nacional ou multinacional, mas certamente não europeu. Nenhum movimento europeu se revelou até hoje com capacidade para emprestar a voz aos cidadãos, que, de qualquer maneira, se sentem menos europeus do que nunca.
Pior que tudo: não há alternativa. Portugal (tal como qualquer outro país) terá de encontrar as suas soluções no quadro europeu. Não parece haver solução portuguesa para a portuguesa crise. O ultimato alemão e europeu é insuportável, as instruções para a revisão constitucional são intoleráveis e a interferência na escolha dos dirigentes políticos é inadmissível. Mas não se conhece outra solução, a não ser a aquiescência ou a resignação. No quadro europeu, seguindo as regras de disciplina financeira e vivendo um longo período de austeridade e de crescimento quase nulo, Portugal terá a hipótese de preservar alguma aparência de democracia e uma reduzida margem de bem-estar e de apoio social. Mesmo se com independência mitigada. Fora da Europa, com algum proteccionismo, com a reestruturação da dívida e eventualmente a cessação de pagamentos, os Portugueses conhecerão a pobreza e perderão o pouco que lhes resta de democracia. Não há volta a dar. Acreditem.
A crise internacional e o colapso nacional mostraram a dimensão inacreditável do desastre e da demagogia. A fragilidade nacional surgiu em proporções inesperadas. A produção nacional era insuficiente, o consumo não parava de crescer. O défice público aumentava sem travões nem sensatez. A dívida externa e interna, sobretudo a primeira, atingia níveis dramáticos. A balança comercial afundava-se. Os emigrantes enviavam menos remessas e os imigrantes mandavam mais. O investimento externo reduzia-se. A expatriação de capitais aumentava. A deslocalização de empresas acelerava. Passámos a viver em desequilíbrio crescente e à custa dos credores. O ataque à dívida soberana resultou imediatamente, não por efeito de conspirações malignas, mas em consequência de uma vulnerabilidade total. O país, o Estado, a banca, muitas empresas e muitas famílias faliram. A assistência financeira externa foi indispensável. Começou a viver-se um novo ciclo que ainda não tem nome, mas cujos contornos são já conhecidos. A nova realidade do desemprego, da quase falência do Estado social, da falta de competitividade, da austeridade e do crescimento insuportável dos impostos veio para ficar. Iniciámos um longo período de crescimento muito baixo ou nulo. As oportunidades serão cada vez menos. A emigração será maior.
Há muita gente que não acredita neste brando diagnóstico. Como não acreditou, durante década e meia, nos sinais de desgoverno e de decadência. Mas a vida acabará por impor a sua lei e a força da realidade. Tão cedo, antes de vários anos, os Portugueses não voltarão a ter os níveis de rendimento, de bem-estar e de desafogo que conheceram, de modo crescente, durante duas ou três décadas. As classes médias perderão algo que tinham, trabalhadores e classes mais desfavorecidas sentirão apertos maiores e apoios sociais menores. Na melhor das hipóteses, com muito trabalho, com um enorme esforço de reorganização do Estado e das finanças públicas e com uma imensa acção de atracção do investimento externo, os Portugueses terão, dentro de cinco a dez anos, as primeiras impressões de um melhoramento real das suas vidas.
Entretanto, as consequências políticas desta situação tornaram-se visíveis ou previsíveis. O Parlamento nacional encontra-se marginalizado e sem regresso. A política nacional está dependente e condicionada nos mais ínfimos pormenores. A Comissão Europeia foi espatifada. O Parlamento Europeu foi confirmado na sua mirífica irrelevância. As instituições europeias estão à mercê das duas grandes potenciais regionais e dos grandes grupos financeiros multinacionais. Partidos e sindicatos europeus brilham pela sua ausência. As empresas europeias põem-se ao abrigo nacional ou multinacional, mas certamente não europeu. Nenhum movimento europeu se revelou até hoje com capacidade para emprestar a voz aos cidadãos, que, de qualquer maneira, se sentem menos europeus do que nunca.
Pior que tudo: não há alternativa. Portugal (tal como qualquer outro país) terá de encontrar as suas soluções no quadro europeu. Não parece haver solução portuguesa para a portuguesa crise. O ultimato alemão e europeu é insuportável, as instruções para a revisão constitucional são intoleráveis e a interferência na escolha dos dirigentes políticos é inadmissível. Mas não se conhece outra solução, a não ser a aquiescência ou a resignação. No quadro europeu, seguindo as regras de disciplina financeira e vivendo um longo período de austeridade e de crescimento quase nulo, Portugal terá a hipótese de preservar alguma aparência de democracia e uma reduzida margem de bem-estar e de apoio social. Mesmo se com independência mitigada. Fora da Europa, com algum proteccionismo, com a reestruturação da dívida e eventualmente a cessação de pagamentos, os Portugueses conhecerão a pobreza e perderão o pouco que lhes resta de democracia. Não há volta a dar. Acreditem.
«Correio da Manhã» de 18 Dez 11
domingo, 18 de dezembro de 2011
Luz - Embaixada dos Estados Unidos em Berlim, 2010
A embaixada americana escolheu um dos lugares mais famosos e vistosos do novo Berlim unificado: mesmo ao lado da porta de Brandenburgo. As condições e os dispositivos de segurança são do mais rigoroso que se possa imaginar, incluindo um troço de rua de circulação privada proibida. Com o terrorismo mundial percebe-se a razão, mas que dá mau aspecto, dá... Quanto ao polícia alemão, parece deslocado...
domingo, 11 de dezembro de 2011
Luz - Estação de Waterloo, Londres, 1995
.
Um canto da estação. Nesta altura, era o términos da linha do EUROSTAR, o TGV que vinha de Paris e Bruxelas. Não era possível deixar de sorrir diante da perfídia inglesa: era em Waterloo que o comboio francês e europeu deveria chegar a Inglaterra!
-
NOTA: o 'post' do passado dia 30 de Outubro tinha vários erros (a começar pelo título...), que foram corrigidos em "actualização-errata" - ver [AQUI].
-
NOTA: o 'post' do passado dia 30 de Outubro tinha vários erros (a começar pelo título...), que foram corrigidos em "actualização-errata" - ver [AQUI].
domingo, 4 de dezembro de 2011
Luz - Edimburgo, 1995
.
Diante de um templo, um pequeno grupo de velhotas escocesas espera, lê o jornal, conversa...
Diante de um templo, um pequeno grupo de velhotas escocesas espera, lê o jornal, conversa...
quinta-feira, 1 de dezembro de 2011
Gérard Castello-Lopes: Uma consciência moral
.
É UM DIA grande para a fotografia. Depois desta belíssima exposição, temos agora o livro que a completa e lhe vai sobreviver anos. As fotografias de um dos nossos maiores, algumas delas inéditas apesar de terem mais de 50 anos, arrumadas, expostas e comentadas por um dos nossos grandes, Jorge Calado, constituem um luxo de que não nos deveremos esquecer. Estamos a viver um momento raro na história da nossa fotografia, podem crer.
Poderia repetir o que escrevi no dia da morte de Gérard Castello-Lopes: “É seguramente o mais interessante fotógrafo português do século XX. Um dos mais, pelo menos”. Só que, ao reler, me dei conta de um erro. Ou de uma redução injusta e involuntária. Qual o significado do termo português? Se estamos apenas a falar de uma nacionalidade, de uma terra de origem familiar ou de um poiso, ainda se aceita. Mesmo se Gérard, a seguir esses critérios à letra, não era realmente, ou não era apenas um português... Mas enfim, digamos que era um dos nossos. O problema é o da acepção exacta do termo “fotógrafo português”. Esse foi o meu erro.
Apesar de sinais de identidade evidentes em algumas das suas fotografias (as pedras da calçada, certas igrejas, a roupa a secar, as fachadas decadentes dos edifícios...), sinais detectados sobretudo por portugueses, pois claro, nada me fará dizer que Gérard é um fotógrafo representativo do que poderá ser a “fotografia portuguesa”, conceito aliás discutível, eventualmente horrendo. A boa fotografia, a melhor fotografia é sempre universal! Gérard fotografou, também, Portugal. Gérard fotografou, como poucos, Lisboa, a Lisboa de O’Neil e alguns restos da Lisboa de Pessoa. Mas também fotografou o mundo, Paris e França, em particular. Situa-se no plano dos maiores, sobretudo europeus, do seu tempo. Descoberto e redescoberto tardiamente, podemos colocá-lo ao lado dos grandes fotógrafos deste continente, em particular dos seus contemporâneos dos anos cinquenta e sessenta. Com esta ressalva, não me importo de dizer que Gérard Castello-Lopes é seguramente um dos mais importantes fotógrafos portugueses.
Esta apreciação leva-me logo a um ponto essencial que gostaria de sublinhar hoje. Por várias razões, de que Jorge Calado dá cabalmente conta na sua apresentação, Gérard foi pouco visto e conhecido no seu tempo. Só a partir dos anos oitenta, em primeiro lugar pela mão de António Sena e da sua galeria Ether (“Vale tudo menos tirar olhos”), começou a ser notado. Depois disso, Gérard ocupou um lugar que era o seu pelo mérito e pela sua excepcional qualidade e sensibilidade. Mas Castello-Lopes era um homem especial, era um amador, era tímido, não seguia escolas nem capelas, tinha uma distância aristocrática ao mundo da comunicação... Além disso, era reservado, com estranhos sentimentos diante da sua própria obra. Cuidadoso e meticuloso, não queria deixar que esta seguisse vida autónoma. Hoje, sabemos que deixou dezenas de milhares de negativos, muitos inéditos, num acervo que talvez nunca tenha sido estudado como deve ser. Pelo que Jorge Calado nos diz, esta exposição e este livro estão limitados no âmbito: apenas estão presentes as imagens que existiam em casa dele e da Danièle, em impressão positiva, prontas a mostrar. A conclusão é simples e salta aos olhos: há muito a fazer, a estudar e inventariar, a catalogar e documentar, a imprimir, a publicar e expor. Além de que, com impressões actuais de diversa escala e dimensão, como ele próprio veio a descobrir e intuir, podemos ter ainda mais novidades. Felizes os países que se podem orgulhar de ter, ainda por investigar, um acervo destes, com o valor e o interesse que lhe podemos atribuir. Gostava de acrescentar também: felizes os países que têm interessados, instituições, tempo, gosto e recursos para tal empreendimento!
É muito tentador dizer que Gérard Castello-Lopes não era homem deste século. Deste, do XXº. Que tem algo do Renascimento. Ou das Luzes. Pela cultura, pela erudição e pela sucessão de actividades. Foi economista, gestor, diplomata, escritor, ensaísta, crítico, cineasta, jazzman, desportista, mergulhador e... fotógrafo. É como fotógrafo que será recordado. Tudo o que fez foi com o espírito do amador, o rigor do cientista e a dedicação do profissional. É verdade que o podemos colocar facilmente naqueles séculos em que as ciências, as artes e as humanidades se frequentavam e estabeleciam uma boa vizinhança. É verdade, mas é fácil. Pensando duas vezes, olhando para esta exposição que Jorge Calado organizou com esmero e significado e folheando minuciosamente este maravilhoso livro, a conclusão é outra: Gérard Castello-Lopes não tem século. Nunca ficou preso ao seu tempo. Mas ficou fiel às suas imagens. Nesta exposição e neste livro, a aguda ironia do seu curador colocou, lado a lado, fotografias que distam de dezenas de anos entre si, mas sobre as quais se poderá dizer que o seu autor fez a mesma fotografia vezes e vezes sem conta ao longo dos tempos. Vejam-se as pessoas fotografadas de costas, a roupa a secar, os espelhos de água, o abatimento dos idosos, o estranho olhar sério de crianças e adolescentes... Apesar das rupturas e mau grado as suas várias vidas, há um fio condutor, há um olhar que se mantém.
Este olhar que se mantém, esta maneira de ver tão sua, não dispensa influências e parecenças. Passeiam-se nestas páginas Cartier-Bresson, sobretudo, mas também Doisneau, Alvarez Bravo, Brassaï, Eugene Smith e Kertész. Aqui e ali, um ar de Walker Evans ou de Weston. E as que poderemos chamar as suas “fotografias francesas” dos anos 50 e que poderiam ter sido feitas por alguns dos acima referidos. Todos passam por aqui, Gérard passou por todos. Como os grandes pintores e fotógrafos, para não dizer os artistas em geral, soube compor, tirar ideias e receber inspirações. Mas soube também fazer a sua síntese e o seu género, apurar a sua linguagem e traçar o seu caminho. Nunca pertenceu aos seus mestres, aos que o ensinaram, nem aos que o inspiraram: cresceu e morreu livre. Como quase sempre, a liberdade é também solidão. Nunca quis deixar-se fechar em escola ou estética. Bem podia, na sua fase dita humanista dos anos cinquenta e sessenta, deixar-se navegar pelas ondas neo-realistas que traziam conforto e alguma companhia. Podia limitar-se a seguir o mestre Cartier-Bresson. Não fez uma coisa nem outra. Navegou pelas margens. Preferiu a liberdade. Gostava de tocar várias músicas. Repito-me: ainda há muito para ver e estudar e talvez mostrar e publicar... Não é possível dizer hoje que sabemos tudo de Gérard Castello-Lopes.
Ao contrário do nosso Curador, creio que Gérard teve várias vidas de fotógrafo. Talvez um só Gérard, mas várias vidas. Mesmo se traços e fios as ligam. Aliás, o próprio Jorge Calado, no seu texto, reconhece que houve pelo menos um renascimento. Esta exposição, tal como foi magistralmente organizada, tem programa. Ou antes, tem uma ideia forte: mostrar a continuidade e a coerência. Mas deixa-nos a incerteza do que está para além do que se vê. Percebo a cortês delicadeza do Jorge, que apenas quis mostrar as provas que Gérard, lui même, aprovara em seu tempo. E aquelas que ele deixou impressas e prontas. Mas a obra fica para além da morte. E o seu tempo virá... Insisto em que Gérard teve várias vidas de fotógrafo. Com estas “Aparições”, inicia-se mais uma. E não a última.
Conhecemo-nos tardiamente. Ele, já com sessenta. Eu, não muito longe. Já ele tinha recomeçado a fotografar e mostrado algumas provas. As primeiras imagens que eu tinha visto formavam um magnífico portfolio alentejano no livro do José Cutileiro “A Portuguese Rural Society”, publicado em Oxford, no princípio dos anos setenta. Vi depois a exposição da Éther, que me deslumbrara e tinha, a seguir, visto o seu primeiro livro a sério, “Perto da vista”. Encontrámo-nos por causa de uma breve recensão que eu escrevera para o Diário de Notícias. Um dia, no meio da rua, um carro parou desabridamente e dele se extraiu um longo senhor que nunca mais acabava de sair. Era o Gérard. Entre a rua e o passeio, apresentou-se. Depois disso, conhecemo-nos um pouco melhor. Sem intimidade, conversámos o bastante para eu ficar com admiração e respeito. Em casas de amigos, falávamos de tudo. No Grémio Literário, a fotografia ocupava-nos. Foi ali que, um dia, depois de uma dura discussão sobre a questão moral na fotografia, lhe disse: “Ó Gérard, você é um grand timide!”. Levantou-se, abriu ligeiramente os braços e retorquiu, com o sorriso de quem é apanhado: “Mais bien sûr”!
Nesta altura, eu ainda não tinha decidido para mim se Gérard era um poseur ou um tímido. Ele teorizava sobre a sua dificuldade em fotografar pessoas. Eu hesitava em aceitar os seus argumentos ou encontrar neles uma espécie de justificação luxuosa para uma relativa abstenção e um grande distanciamento. A evidência da sua timidez revelou-se então. Várias outras pessoas terão chegado à mesma conclusão. A timidez era uma maneira de sentir as dificuldades do acto de fotografar. É verdade que existe uma questão moral. Uma questão de moral. Fotografar alguém é sempre um problema. Fotografar um desconhecido é um enorme problema. Maior problema ainda é a utilização dessas imagens. Vários termos nos ocorrem a este propósito. Intrusão... Violação de privacidade... Atentado à intimidade... Uso indevido da identidade de outrem... Num tempo em que a chamada sociedade de informação ou de comunicação empurra as fronteiras morais para limites inaceitáveis, é sempre bom recordar os velhos princípios. E senti-los, coisa que Gérard me pareceu fazer com sinceridade.
O pior é o momento em que se faz a fotografia. Gesto, aliás, que, em várias línguas, se chama “disparar”. Não é pouco, nem é pacífico. E também se diz, pelo menos em português, “tirar o retrato”. Sublinho o “tirar”... Hoje, far-se-ão muitas dezenas ou centenas de milhões de fotografias por dia. Até já os telefones tiram fotografias, nesta que é uma aliança entre dois velhos rivais, a palavra e a imagem. Parece o gesto mais banal do mundo. Parece, mas não é. A questão moral está sempre lá. Com que direito eu fixo imagens de outros, momentos vividos por outras pessoas e identidades alheias? Com que legitimidade posso eu utilizar a vida de outro? Ainda hoje estou convencido de que foi esta questão moral que reforçou a sua timidez.
Quando ele me tentou explicar as razões e o modo da sua “segunda vida”, o principal argumento utilizado para se redefinir foi o da “intrusão” ou mesmo o da “agressão”. Foi a esse propósito que ele cunhou uma frase inesquecível: aproximar-se de alguém com uma câmara fotográfica é como usar luvas de boxe para conversar! Por isso, os objectos, a luz, as formas, as composições gráficas e os elementos de paisagem apareciam, agora, com muito mais frequência do que as pessoas em planos aproximados dos primeiros anos. É uma timidez cruzada de delicadeza. Chama-se a isso fazer cerimónia. Gérard fazia.
Talvez seja esta consciência moral que faz com que, nestas fotografias, o drama esteja ausente. Como ausentes estão também o sofrimento, a violência e a tragédia. E até a pobreza inevitável dos anos sessenta portugueses nos aparece debaixo de uma relativa doçura. Gérard não era um fotógrafo cortesão, nem queria vender optimismo. Mas evitava a dor nas fotografias. O que só se explica por razões morais. É esse um dos traços mais interessantes da sua obra. Renunciou ou simplesmente não recorreu aos elementos mais procurados pela fotografia, a começar pelo jornalismo e pela reportagem. Na verdade, o sofrimento, a violência, a dor, a pobreza e a guerra são fotogénicos! Infelizmente. Custa a dizer. Mas é verdade. Há uma estética do sofrimento vorazmente cultivada por muitos profissionais, por editores e por órgãos de informação. A ponto de, pelo hábito, ficarmos indiferentes ao sofrimento e de esquecermos, pela forma, o conteúdo. Quem se incomoda hoje com os ventres inchados das crianças africanas a morrer de fome e doença? Ou com os restos de corpos depois de explosão de uma mina? Ou com os efeitos iconográficos da tortura, da violação, da droga, do crime, da miséria e da doença? À força de ver, ficamos indiferentes.
Gérard não foi atraído pelo sofrimento dos outros. Pela sua moral e porque nunca foi um fotógrafo engagé. Ou empenhado. Ou comprometido. Apesar do seu tempo, próprio a esse género. Mau grado não ter gostado do que viu, em França ou em Portugal, com a guerra, a devastação e as ditaduras. Não advogou causas com a sua fotografia, a não ser a da condição humana na sua forma mais poética. Fez melhor do que fotografia de combate ou fotografia com programa. Por isso as suas imagens duram mais do que as efémeras com intenção. Interessava-se pelo quotidiano e promovia o banal e o incidental a raridade.
Gérard foi um génio da encenação. Da encenação intuitiva. Da encenação natural, isto é, da colocação, em imagem, do que o mundo lhe dava, mas aproveitando sempre a ideia de encenação, de ligação especial entre os figurantes, de relação significativa entre estes e o meio ou a paisagem. As suas personagens na paisagem são pequenas obras de arte. Poderiam ter sido imaginadas previamente. Poderiam ter sido manipuladas ou combinadas, de tal modo elas nos parecem rigorosas e minuciosas. Mas creio que Gérard nunca o fez. Ele soube captar, não construiu ou não procedeu a montagem.
A discussão sobre a escala (a dimensão absoluta e relativa das suas imagens) foi a sua última e principal contribuição para a teoria da fotografia. Tive a sorte de assistir, no Porto, à sua catedrática conferência sobre o tema. Ali relembrou a novidade da grande dimensão de fotografias que nos habituámos a ver em pequeno formato. A diferença de escala pode ser a metamorfose do sentido. Aludiu à mudança de género e de natureza que se opera quando uma fotografia que se manuseia, que se vê com as mãos, se transforma num fresco que se observa e admira. Referiu-se à enorme humanidade de um olhar num rosto grande como uma parede. Ali percebi que todas as escalas são boas, não há leis nem dogmas. Todas as escalas são boas, desde que adequadas à imagem, ao local, à manifestação, às circunstâncias! A mesma fotografia pode ter várias vidas e vários sentidos conforme as circunstâncias.
Em certo sentido, esta reflexão leva-nos à questão da liberdade de criação. E da imaginação. O Gérard foi uma das duas pessoas que me ajudou a olhar para a fotografia com mais liberdade e menos fanatismo. Formatar as dimensões? Alterar o enquadramento? Imprimir de várias maneiras? Manipular a impressão? Recentrar? Recorrer ao digital? Eis pecados que, desde que com honestidade, deixaram de o ser. Em parte, graças a ele, quando me disse que as impressões ulteriores eram geralmente muito mais interessantes do que os famosos vintages. Comecei a perceber então que o dogma é coisa de fanáticos. Caminhei do mais estrito conservadorismo para uma atrevida liberdade... Mas não deixo de encontrar, nesses mesmos vintages, um encanto e uma curiosidade que constituem, em si, um valor.
Nesta exposição e neste livro, Jorge Calado escolheu, em maioria, vintages no formato em que Gérard os deixou. Foi uma opção assumida, tem as suas razões de ser. Porque é póstuma. Porque é a maior que jamais se fez. Porque tem muitas imagens inéditas. Porque o esforço de investigação de tudo o resto está ainda por fazer, mesmo se, ao que parece, Danièle já terá feito um apurado trabalho de ordenamento. E até porque já tivemos várias oportunidades de ver algumas destas imagens em tiragens contemporâneas e nunca tínhamos visto os vintages. O importante é considerar que todas podem ser autênticas, provas de época ou contemporâneas, vintages ou tiragens ulteriores. Podem ter valores de mercado diferentes, mas isso não altera o valor intrínseco, nem a qualidade, muito menos a autenticidade.
Já que falo do trabalho de Jorge Calado. Este é um dos homens que mais admiro em Portugal. Pela sua cultura e pela sua erudição. Pelo seu contributo para a nossa felicidade. E pela sua simpatia pessoal. Este ano foi, para ele, de monumental esforço. Para nós, de encanto espiritual. Antes deste livro, tivemos o “Haja Luz – Uma História da Química Através de Tudo”, maravilhosa enciclopédia intelectual, artística e científica. Agora, um dos mais belos livros de fotografia jamais publicados. Garanto-vos que é obra, publicar os dois no mesmo ano! Obrigado Jorge!
-
BES ART e Fundação Calouste Gulbenkian
Lisboa, 22 Novembro de 2011
É UM DIA grande para a fotografia. Depois desta belíssima exposição, temos agora o livro que a completa e lhe vai sobreviver anos. As fotografias de um dos nossos maiores, algumas delas inéditas apesar de terem mais de 50 anos, arrumadas, expostas e comentadas por um dos nossos grandes, Jorge Calado, constituem um luxo de que não nos deveremos esquecer. Estamos a viver um momento raro na história da nossa fotografia, podem crer.
Poderia repetir o que escrevi no dia da morte de Gérard Castello-Lopes: “É seguramente o mais interessante fotógrafo português do século XX. Um dos mais, pelo menos”. Só que, ao reler, me dei conta de um erro. Ou de uma redução injusta e involuntária. Qual o significado do termo português? Se estamos apenas a falar de uma nacionalidade, de uma terra de origem familiar ou de um poiso, ainda se aceita. Mesmo se Gérard, a seguir esses critérios à letra, não era realmente, ou não era apenas um português... Mas enfim, digamos que era um dos nossos. O problema é o da acepção exacta do termo “fotógrafo português”. Esse foi o meu erro.
Apesar de sinais de identidade evidentes em algumas das suas fotografias (as pedras da calçada, certas igrejas, a roupa a secar, as fachadas decadentes dos edifícios...), sinais detectados sobretudo por portugueses, pois claro, nada me fará dizer que Gérard é um fotógrafo representativo do que poderá ser a “fotografia portuguesa”, conceito aliás discutível, eventualmente horrendo. A boa fotografia, a melhor fotografia é sempre universal! Gérard fotografou, também, Portugal. Gérard fotografou, como poucos, Lisboa, a Lisboa de O’Neil e alguns restos da Lisboa de Pessoa. Mas também fotografou o mundo, Paris e França, em particular. Situa-se no plano dos maiores, sobretudo europeus, do seu tempo. Descoberto e redescoberto tardiamente, podemos colocá-lo ao lado dos grandes fotógrafos deste continente, em particular dos seus contemporâneos dos anos cinquenta e sessenta. Com esta ressalva, não me importo de dizer que Gérard Castello-Lopes é seguramente um dos mais importantes fotógrafos portugueses.
Esta apreciação leva-me logo a um ponto essencial que gostaria de sublinhar hoje. Por várias razões, de que Jorge Calado dá cabalmente conta na sua apresentação, Gérard foi pouco visto e conhecido no seu tempo. Só a partir dos anos oitenta, em primeiro lugar pela mão de António Sena e da sua galeria Ether (“Vale tudo menos tirar olhos”), começou a ser notado. Depois disso, Gérard ocupou um lugar que era o seu pelo mérito e pela sua excepcional qualidade e sensibilidade. Mas Castello-Lopes era um homem especial, era um amador, era tímido, não seguia escolas nem capelas, tinha uma distância aristocrática ao mundo da comunicação... Além disso, era reservado, com estranhos sentimentos diante da sua própria obra. Cuidadoso e meticuloso, não queria deixar que esta seguisse vida autónoma. Hoje, sabemos que deixou dezenas de milhares de negativos, muitos inéditos, num acervo que talvez nunca tenha sido estudado como deve ser. Pelo que Jorge Calado nos diz, esta exposição e este livro estão limitados no âmbito: apenas estão presentes as imagens que existiam em casa dele e da Danièle, em impressão positiva, prontas a mostrar. A conclusão é simples e salta aos olhos: há muito a fazer, a estudar e inventariar, a catalogar e documentar, a imprimir, a publicar e expor. Além de que, com impressões actuais de diversa escala e dimensão, como ele próprio veio a descobrir e intuir, podemos ter ainda mais novidades. Felizes os países que se podem orgulhar de ter, ainda por investigar, um acervo destes, com o valor e o interesse que lhe podemos atribuir. Gostava de acrescentar também: felizes os países que têm interessados, instituições, tempo, gosto e recursos para tal empreendimento!
É muito tentador dizer que Gérard Castello-Lopes não era homem deste século. Deste, do XXº. Que tem algo do Renascimento. Ou das Luzes. Pela cultura, pela erudição e pela sucessão de actividades. Foi economista, gestor, diplomata, escritor, ensaísta, crítico, cineasta, jazzman, desportista, mergulhador e... fotógrafo. É como fotógrafo que será recordado. Tudo o que fez foi com o espírito do amador, o rigor do cientista e a dedicação do profissional. É verdade que o podemos colocar facilmente naqueles séculos em que as ciências, as artes e as humanidades se frequentavam e estabeleciam uma boa vizinhança. É verdade, mas é fácil. Pensando duas vezes, olhando para esta exposição que Jorge Calado organizou com esmero e significado e folheando minuciosamente este maravilhoso livro, a conclusão é outra: Gérard Castello-Lopes não tem século. Nunca ficou preso ao seu tempo. Mas ficou fiel às suas imagens. Nesta exposição e neste livro, a aguda ironia do seu curador colocou, lado a lado, fotografias que distam de dezenas de anos entre si, mas sobre as quais se poderá dizer que o seu autor fez a mesma fotografia vezes e vezes sem conta ao longo dos tempos. Vejam-se as pessoas fotografadas de costas, a roupa a secar, os espelhos de água, o abatimento dos idosos, o estranho olhar sério de crianças e adolescentes... Apesar das rupturas e mau grado as suas várias vidas, há um fio condutor, há um olhar que se mantém.
Este olhar que se mantém, esta maneira de ver tão sua, não dispensa influências e parecenças. Passeiam-se nestas páginas Cartier-Bresson, sobretudo, mas também Doisneau, Alvarez Bravo, Brassaï, Eugene Smith e Kertész. Aqui e ali, um ar de Walker Evans ou de Weston. E as que poderemos chamar as suas “fotografias francesas” dos anos 50 e que poderiam ter sido feitas por alguns dos acima referidos. Todos passam por aqui, Gérard passou por todos. Como os grandes pintores e fotógrafos, para não dizer os artistas em geral, soube compor, tirar ideias e receber inspirações. Mas soube também fazer a sua síntese e o seu género, apurar a sua linguagem e traçar o seu caminho. Nunca pertenceu aos seus mestres, aos que o ensinaram, nem aos que o inspiraram: cresceu e morreu livre. Como quase sempre, a liberdade é também solidão. Nunca quis deixar-se fechar em escola ou estética. Bem podia, na sua fase dita humanista dos anos cinquenta e sessenta, deixar-se navegar pelas ondas neo-realistas que traziam conforto e alguma companhia. Podia limitar-se a seguir o mestre Cartier-Bresson. Não fez uma coisa nem outra. Navegou pelas margens. Preferiu a liberdade. Gostava de tocar várias músicas. Repito-me: ainda há muito para ver e estudar e talvez mostrar e publicar... Não é possível dizer hoje que sabemos tudo de Gérard Castello-Lopes.
Ao contrário do nosso Curador, creio que Gérard teve várias vidas de fotógrafo. Talvez um só Gérard, mas várias vidas. Mesmo se traços e fios as ligam. Aliás, o próprio Jorge Calado, no seu texto, reconhece que houve pelo menos um renascimento. Esta exposição, tal como foi magistralmente organizada, tem programa. Ou antes, tem uma ideia forte: mostrar a continuidade e a coerência. Mas deixa-nos a incerteza do que está para além do que se vê. Percebo a cortês delicadeza do Jorge, que apenas quis mostrar as provas que Gérard, lui même, aprovara em seu tempo. E aquelas que ele deixou impressas e prontas. Mas a obra fica para além da morte. E o seu tempo virá... Insisto em que Gérard teve várias vidas de fotógrafo. Com estas “Aparições”, inicia-se mais uma. E não a última.
Conhecemo-nos tardiamente. Ele, já com sessenta. Eu, não muito longe. Já ele tinha recomeçado a fotografar e mostrado algumas provas. As primeiras imagens que eu tinha visto formavam um magnífico portfolio alentejano no livro do José Cutileiro “A Portuguese Rural Society”, publicado em Oxford, no princípio dos anos setenta. Vi depois a exposição da Éther, que me deslumbrara e tinha, a seguir, visto o seu primeiro livro a sério, “Perto da vista”. Encontrámo-nos por causa de uma breve recensão que eu escrevera para o Diário de Notícias. Um dia, no meio da rua, um carro parou desabridamente e dele se extraiu um longo senhor que nunca mais acabava de sair. Era o Gérard. Entre a rua e o passeio, apresentou-se. Depois disso, conhecemo-nos um pouco melhor. Sem intimidade, conversámos o bastante para eu ficar com admiração e respeito. Em casas de amigos, falávamos de tudo. No Grémio Literário, a fotografia ocupava-nos. Foi ali que, um dia, depois de uma dura discussão sobre a questão moral na fotografia, lhe disse: “Ó Gérard, você é um grand timide!”. Levantou-se, abriu ligeiramente os braços e retorquiu, com o sorriso de quem é apanhado: “Mais bien sûr”!
Nesta altura, eu ainda não tinha decidido para mim se Gérard era um poseur ou um tímido. Ele teorizava sobre a sua dificuldade em fotografar pessoas. Eu hesitava em aceitar os seus argumentos ou encontrar neles uma espécie de justificação luxuosa para uma relativa abstenção e um grande distanciamento. A evidência da sua timidez revelou-se então. Várias outras pessoas terão chegado à mesma conclusão. A timidez era uma maneira de sentir as dificuldades do acto de fotografar. É verdade que existe uma questão moral. Uma questão de moral. Fotografar alguém é sempre um problema. Fotografar um desconhecido é um enorme problema. Maior problema ainda é a utilização dessas imagens. Vários termos nos ocorrem a este propósito. Intrusão... Violação de privacidade... Atentado à intimidade... Uso indevido da identidade de outrem... Num tempo em que a chamada sociedade de informação ou de comunicação empurra as fronteiras morais para limites inaceitáveis, é sempre bom recordar os velhos princípios. E senti-los, coisa que Gérard me pareceu fazer com sinceridade.
O pior é o momento em que se faz a fotografia. Gesto, aliás, que, em várias línguas, se chama “disparar”. Não é pouco, nem é pacífico. E também se diz, pelo menos em português, “tirar o retrato”. Sublinho o “tirar”... Hoje, far-se-ão muitas dezenas ou centenas de milhões de fotografias por dia. Até já os telefones tiram fotografias, nesta que é uma aliança entre dois velhos rivais, a palavra e a imagem. Parece o gesto mais banal do mundo. Parece, mas não é. A questão moral está sempre lá. Com que direito eu fixo imagens de outros, momentos vividos por outras pessoas e identidades alheias? Com que legitimidade posso eu utilizar a vida de outro? Ainda hoje estou convencido de que foi esta questão moral que reforçou a sua timidez.
Quando ele me tentou explicar as razões e o modo da sua “segunda vida”, o principal argumento utilizado para se redefinir foi o da “intrusão” ou mesmo o da “agressão”. Foi a esse propósito que ele cunhou uma frase inesquecível: aproximar-se de alguém com uma câmara fotográfica é como usar luvas de boxe para conversar! Por isso, os objectos, a luz, as formas, as composições gráficas e os elementos de paisagem apareciam, agora, com muito mais frequência do que as pessoas em planos aproximados dos primeiros anos. É uma timidez cruzada de delicadeza. Chama-se a isso fazer cerimónia. Gérard fazia.
Talvez seja esta consciência moral que faz com que, nestas fotografias, o drama esteja ausente. Como ausentes estão também o sofrimento, a violência e a tragédia. E até a pobreza inevitável dos anos sessenta portugueses nos aparece debaixo de uma relativa doçura. Gérard não era um fotógrafo cortesão, nem queria vender optimismo. Mas evitava a dor nas fotografias. O que só se explica por razões morais. É esse um dos traços mais interessantes da sua obra. Renunciou ou simplesmente não recorreu aos elementos mais procurados pela fotografia, a começar pelo jornalismo e pela reportagem. Na verdade, o sofrimento, a violência, a dor, a pobreza e a guerra são fotogénicos! Infelizmente. Custa a dizer. Mas é verdade. Há uma estética do sofrimento vorazmente cultivada por muitos profissionais, por editores e por órgãos de informação. A ponto de, pelo hábito, ficarmos indiferentes ao sofrimento e de esquecermos, pela forma, o conteúdo. Quem se incomoda hoje com os ventres inchados das crianças africanas a morrer de fome e doença? Ou com os restos de corpos depois de explosão de uma mina? Ou com os efeitos iconográficos da tortura, da violação, da droga, do crime, da miséria e da doença? À força de ver, ficamos indiferentes.
Gérard não foi atraído pelo sofrimento dos outros. Pela sua moral e porque nunca foi um fotógrafo engagé. Ou empenhado. Ou comprometido. Apesar do seu tempo, próprio a esse género. Mau grado não ter gostado do que viu, em França ou em Portugal, com a guerra, a devastação e as ditaduras. Não advogou causas com a sua fotografia, a não ser a da condição humana na sua forma mais poética. Fez melhor do que fotografia de combate ou fotografia com programa. Por isso as suas imagens duram mais do que as efémeras com intenção. Interessava-se pelo quotidiano e promovia o banal e o incidental a raridade.
Gérard foi um génio da encenação. Da encenação intuitiva. Da encenação natural, isto é, da colocação, em imagem, do que o mundo lhe dava, mas aproveitando sempre a ideia de encenação, de ligação especial entre os figurantes, de relação significativa entre estes e o meio ou a paisagem. As suas personagens na paisagem são pequenas obras de arte. Poderiam ter sido imaginadas previamente. Poderiam ter sido manipuladas ou combinadas, de tal modo elas nos parecem rigorosas e minuciosas. Mas creio que Gérard nunca o fez. Ele soube captar, não construiu ou não procedeu a montagem.
A discussão sobre a escala (a dimensão absoluta e relativa das suas imagens) foi a sua última e principal contribuição para a teoria da fotografia. Tive a sorte de assistir, no Porto, à sua catedrática conferência sobre o tema. Ali relembrou a novidade da grande dimensão de fotografias que nos habituámos a ver em pequeno formato. A diferença de escala pode ser a metamorfose do sentido. Aludiu à mudança de género e de natureza que se opera quando uma fotografia que se manuseia, que se vê com as mãos, se transforma num fresco que se observa e admira. Referiu-se à enorme humanidade de um olhar num rosto grande como uma parede. Ali percebi que todas as escalas são boas, não há leis nem dogmas. Todas as escalas são boas, desde que adequadas à imagem, ao local, à manifestação, às circunstâncias! A mesma fotografia pode ter várias vidas e vários sentidos conforme as circunstâncias.
Em certo sentido, esta reflexão leva-nos à questão da liberdade de criação. E da imaginação. O Gérard foi uma das duas pessoas que me ajudou a olhar para a fotografia com mais liberdade e menos fanatismo. Formatar as dimensões? Alterar o enquadramento? Imprimir de várias maneiras? Manipular a impressão? Recentrar? Recorrer ao digital? Eis pecados que, desde que com honestidade, deixaram de o ser. Em parte, graças a ele, quando me disse que as impressões ulteriores eram geralmente muito mais interessantes do que os famosos vintages. Comecei a perceber então que o dogma é coisa de fanáticos. Caminhei do mais estrito conservadorismo para uma atrevida liberdade... Mas não deixo de encontrar, nesses mesmos vintages, um encanto e uma curiosidade que constituem, em si, um valor.
Nesta exposição e neste livro, Jorge Calado escolheu, em maioria, vintages no formato em que Gérard os deixou. Foi uma opção assumida, tem as suas razões de ser. Porque é póstuma. Porque é a maior que jamais se fez. Porque tem muitas imagens inéditas. Porque o esforço de investigação de tudo o resto está ainda por fazer, mesmo se, ao que parece, Danièle já terá feito um apurado trabalho de ordenamento. E até porque já tivemos várias oportunidades de ver algumas destas imagens em tiragens contemporâneas e nunca tínhamos visto os vintages. O importante é considerar que todas podem ser autênticas, provas de época ou contemporâneas, vintages ou tiragens ulteriores. Podem ter valores de mercado diferentes, mas isso não altera o valor intrínseco, nem a qualidade, muito menos a autenticidade.
Já que falo do trabalho de Jorge Calado. Este é um dos homens que mais admiro em Portugal. Pela sua cultura e pela sua erudição. Pelo seu contributo para a nossa felicidade. E pela sua simpatia pessoal. Este ano foi, para ele, de monumental esforço. Para nós, de encanto espiritual. Antes deste livro, tivemos o “Haja Luz – Uma História da Química Através de Tudo”, maravilhosa enciclopédia intelectual, artística e científica. Agora, um dos mais belos livros de fotografia jamais publicados. Garanto-vos que é obra, publicar os dois no mesmo ano! Obrigado Jorge!
BES ART e Fundação Calouste Gulbenkian
Lisboa, 22 Novembro de 2011
domingo, 27 de novembro de 2011
Luz - Douro, 1978
.
Já nos anos setenta, começaram a aparecer os baldes de plástico, a substituir as cestas tradicionais. E os pequenos bidões ou contentores de latão ou plástico no lugar dos antigos cestos vindimos. Mas as cabeças daquelas mulheres que aguentam todos os pesos em equilíbrio são as mesmas...
domingo, 20 de novembro de 2011
Luz - Diante de Brandeburgo, Berlim, 2010
.
.
No início da famosa avenida Unter den Linden. Os turistas abundam. E uns improvisados “artistas” fazem o que podem por ganhar a vida e “animar” os locais. Apesar da contenção dos alemães que me parece não terem exagerado com a epopeia da vitória sobre o comunismo, há, aqui e ali, ridículas figuras de “espontâneos” que procuram divertir os turistas. Que, aliás, se deixam divertir... Há soldados russos, espiões da STASI (a polícia política da Alemanha comunista), figuras de cera, maquetes de camiões dos anos sessenta... E toda aquela gente se faz fotografar, pois claro!
domingo, 13 de novembro de 2011
Um Rumo para Portugal (*)
.
(*) - IV Conferência Internacional do Funchal
Funchal, 4 e 5 de Novembro de 2011
O TEMA que me é oferecido pelos organizadores desta conferência internacional é de tal modo ambicioso que deveria obrigar qualquer autor a um esforço de humildade. Prever o futuro? Definir um horizonte? Desenhar um rumo? Eis uma actividade necessária, interessante e estimulante. Necessária, porque é sempre bom conhecer o destino ou o objectivo da nossa jornada. Interessante, pois que nos convida a rever a história, a conhecer o presente e a ouvir os outros. Estimulante, pois leva-nos a perceber o invisível e a imaginar o desconhecido. Mas tenhamos consciência de que se trata apenas de um exercício. Por isso, com modéstia digo que não vos trago um rumo. Isso não é coisa de um homem só. É coisa de um povo.
A humanidade tem, desde há muito, esse privilégio único: o de poder conhecer o passado e estudar o presente. Ter consciência de si, como sujeito ou como sociedade: perceber as origens e os antepassados e olhar para o presente de modo informado fazem parte dos nossos atributos humanos. Atrevidos como somos, depressa desafiámos os deuses e quisemos determinar o horizonte, desenhar o rumo e prever o futuro. Não faltam, no património cultural e na história do pensamento, as previsões, os projectos, as construções e as utopias mais variadas. Um olhar lúcido sobre essas criações e tentativas levar-nos-á a perceber que as previsões depressa se revelaram insuficientes ou erradas. As melhores estratégias esbarraram no imprevisto. Os mais perfeitos projectos de futuro tornaram-se antecipações culturalmente interessantes, mas que dizem mais sobre os fantasmas dos seus criadores do que sobre as capacidades de concretização. E, no entanto, não desistimos.
Com o desenvolvimento das ciências, cada vez estamos mais convencidos de que seremos capazes de traçar as linhas essenciais do futuro. A um político, a um filósofo ou a um economista, não hesitamos em pedir-lhe previsões e desígnios. Um partido que se preza publica a sua visão do mundo, o que quer dizer simplesmente a previsão do que será o futuro de acordo com a sua vontade. E as suas promessas. Em momento de crise, como em tempo de prosperidade, não falta a pergunta da praxe: “Para onde vamos?”. As respostas são geralmente precisas e voluntaristas, mas também erradas e rapidamente ultrapassadas. Quem, há vinte ou trinta anos, podia prever ou sequer suspeitar do que vivemos hoje? Da emergência da China como potência de primeiro plano à crise financeira da primeira década do século XXI; do fim do apartheid à implosão do universo comunista; do terrorismo endémico na sociedade internacional ao desemprego crónico nos países mais desenvolvidos do mundo; quem previu ou antecipou?
Se viermos só a Portugal, o imprevisto é de dimensão equivalente. Os vinte anos de desenvolvimento notável, seguidos de dez de crise excepcionalmente dura; a chegada de algumas centenas de milhares trabalhadores estrangeiros; o envelhecimento acelerado da população; a quebra rápida da natalidade; a redução formidável da mortalidade infantil; e até o brutal endividamento público e privado dos Portugueses: eis apenas alguns factos não previstos e não antecipados, mas que hoje moldam os nossos comportamentos e condicionam as nossas vidas.
Regresso ao tema inicial: Um rumo para Portugal. O rumo de um país define-se no cruzamento entre o legado, a vontade e as circunstâncias. Em parte, a história e o presente condicionam o futuro e os caminhos a percorrer. Em parte também, a vontade dos povos, particularmente dos seus dirigentes, contribui para o desenho do horizonte e o traçado dos percursos. Finalmente, as circunstâncias pesam consideravelmente na determinação do campo do possível. As circunstâncias podem ser de ordem interna ou externa. No primeiro caso, avultam a geografia e os recursos materiais e económicos. No segundo, as relações internacionais, começando pela política e pela economia e passando pela ecologia e a ciência, devem ser mencionadas como condicionantes de peso.
O rumo de uma nação ou de um país depende de todos estes factores e do modo como se realiza este cruzamento. Para nada serve sonhar um rumo impossível e fantasioso, a não ser como divertimento lúdico. Ou antes, pode servir como inspiração ou exercício, mas não como construção política do futuro. A verdade é que, mais do que nunca na nossa história, faz-se sentir o peso das circunstâncias externas, do preço do petróleo à economia internacional, das instituições europeias em crise aos efeitos da globalização. Esta última, aliás, é a grande parteira da dependência ou das interdependências, que nos tornam mais condicionados pelas circunstâncias que nos ultrapassam.
A vontade de um povo e dos seus dirigentes merece menção especial. Quando inteligentes, os visionários, são certamente interessantes, mas, muitas vezes, inúteis. Os melhores são os que prefiguram o encontro entre o possível e a liberdade de escolha. Quando de elevada qualidade filosófica, politica ou cultural, os visionários oferecem-nos uma inspiração fértil. Se autoproclamados iluminados, não passam de vendedores de sonhos.
Por que se fala tanto de incerteza, tema genérico desta Conferência? Porque o rumo é inseguro e mal definido, com certeza. Mas porquê? Porque existe uma crise de recursos. Porque as circunstâncias externas imprimem um clima de incerteza. Porque a Europa está ela própria em crise. Porque as nações e os Estados europeus procuram, sem o encontrar, o seu próprio rumo. Porque a globalização aumenta as exigências de definição da vontade de um povo. Porque o povo português e os seus dirigentes têm adiado o debate, a procura e a definição de um rumo. Porque, finalmente, se tem aprofundado a clivagem entre os dirigentes e o povo.
Curioso é o paradoxo actual segundo o qual o aumento da incerteza parece proporcional ao aumento das capacidades de previsão. Nunca como hoje tivemos ao nosso alcance tantos instrumentos de diagnóstico, medida e previsão. Nunca como hoje tivemos à disposição tantos métodos e técnicas de gestão e de planeamento, capazes até de lidar com o imprevisível. Mas também nunca como hoje vivemos tanto sob o signo da incerteza. Dependemos todos, cada vez mais, uns dos outros. A globalização trouxe uma autêntica cadeia de causas, efeitos e repercussões por inércia que fazem com que todos os povos sintam as consequências do que se passa em qualquer sítio do mundo. “Isto anda tudo ligado”: frase antiga e cliché habitual, que nunca foi tão verdade como agora.
Pode parecer paradoxal, mas é justamente porque penso que é difícil ou mesmo impossível prever o futuro ou traçar um rumo com elevado grau de probabilidade, que penso também que é nossa obrigação, cidadãos e dirigentes, procurar caminhos e debater possibilidades. Porque se trata de incerteza generalizada. Mas também porque é essa atitude que nos permite fazer melhores escolhas. Na verdade, o futuro é feito de miríades de decisões, individuais ou colectivas, tomadas todos os dias. São essas escolhas e essas decisões que, aparentemente inócuas ou sem alcance, acabam por formar vontades colectivas e sobretudo determinam a margem de liberdade que temos diante de nós. Apesar da beleza poética da fórmula, não acredito que “o caminho se faça caminhando”. Talvez seja verdade noutros domínios, noutras áreas, na literatura, nas artes ou nos sentimentos. Mas, no percurso colectivo de um povo, aumentam a liberdade e a segurança se conhecermos, a traços largos, o caminho e o itinerário que queremos delinear.
Olhando para o nosso país, nesta década que apenas começa e já se revela ser de enorme dificuldade, não me parece descabido enumerar algumas balizas que, sem serem dogmáticas, são aquelas que me parecem ser mais calhadas para a nossa liberdade individual e colectiva. Haverá outras escolhas, estas são as que proponho.
A Europa no centro dos nossos horizontes: eis o eixo central das linhas definidoras de um rumo possível. Todos os argumentos pesam nesse sentido. Desde os emigrantes, que foram a nossa primeira contribuição para a integração europeia, até à comunidade de legado e património. Tudo nos faz olhar para a Europa. Dela vieram princípios e tradições, do Cristianismo às “Luzes”, da democracia ao Estado social. Na Europa encontrámos refúgio, nos anos difíceis da revolução de 1975 e da descolonização desajeitadamente levada a cabo. Da Europa vieram também os principais estímulos para as grandes mudanças sociais, económicas e políticas dos anos sessenta a oitenta. Hoje, mesmo com a União Europeia em crise certa e em momento de provável transformação, os Portugueses não devem reagir com medo ou passividade, antes se devem empenhar em encontrar novas soluções no quadro europeu. Fora dele, talvez o isolamento e a pobreza esperem por nós. E provavelmente menos liberdade.
Ao lado da Europa, em complemento da Europa, olhemos para as comunidades portuguesas a viverem em três ou quatro continentes, nomeadamente na Europa, também. A nação portuguesa é de tal modo feita que as comunidades fazem parte integrante da cultura e do modo de viver. Uma política que as envolva no percurso colectivo não se faz por misericórdia ou nostalgia. Faz-se porque reforça a nação e a sua identidade. Esta última não é um devaneio cultural (e se fosse não haveria mal nisso...), é um factor de autonomia que aumenta a nossa liberdade.
Internamente, a equidade, a procura de uma maior equidade, deveria fazer parte do nosso horizonte. Por razões de vária ordem, carregamos, mais do que outros povos, um fardo de desigualdade excessiva. Há qualquer coisa na sociedade portuguesa, nos seus costumes e na sua história, nas estruturas sociais e na função da propriedade, nas relações humanas e sociais e na organização do Estado, que faz com que sejamos mais desiguais do que a maior parte dos países ocidentais. Ora, a equidade não é apenas um acto de solidariedade, misericórdia ou generosidade. É também, sabe-se cada dia melhor, um factor de coesão e de desenvolvimento. A equidade aumenta a participação dos povos, reforça o sentido de responsabilidade e estimula a recompensa e o mérito.
Para que a equidade tenha um significado, é necessário assegurar que a Justiça funcione e cumpra os seus deveres. O que, infelizmente, não é o caso entre nós. Por isso, a Justiça deveria estar no centro das prioridades nacionais. A Justiça portuguesa não se adaptou bem a uma sociedade aberta e democrática; a um tempo industrial, nem a uma sociedade da informação e conhecimento; ao mercado aberto e à globalização; a um regime constitucional de reconhecimento de direitos e deveres; a um Estado de Direito em desenvolvimento. A Justiça portuguesa ficou prisioneira de corpos profissionais poderosos, de tradições rurais e despóticas e de métodos burocráticos e autocráticos. Com tudo isso, é também a liberdade individual que fica prejudicada.
Ora, a liberdade individual num país como o nosso, de tradição paternalista ou autoritária, tem valor revolucionário. Vivemos décadas ou séculos em que o “interesse nacional”, interpretado por alguns e quase sempre equiparado ao “interesse do Estado”, se sobrepôs às liberdades individuais. Estas nunca foram fundadoras do Estado. Os direitos de grupos e as prerrogativas de corporações e famílias, sem falar nos interesses do Estado e do poder político, levaram sempre a melhor sobre a liberdade individual. Triste sina a de um povo onde o mero termo de “liberal” é mal visto e negativamente avaliado!
A cultura do povo deveria estar no topo das nossas urgências. Não falo da “cultura popular”, indispensável, rica e persistente. Para essa, não é preciso elaborar políticas públicas. Basta deixá-la viver, respeitá-la e não a ferir. É à “alta cultura” que me refiro. O termo é estranho, está mesmo hoje condenado por elitista. Mas foi erro histórico. Essa cultura é o legado comum da humanidade, dos povos ocidentais no nosso caso. Essa cultura, cuja permanência e sobrevivência não estiveram em causa durante séculos, está hoje arrumada em bibliotecas e afastada das escolas e das universidades. A formação cultural é o mais sério instrumento de libertação e de igualdade. Mais do que a formação técnica. Os Portugueses, por séculos de pobreza, de analfabetismo e desigualdade, tiveram reduzido acesso à cultura. Hoje, as escolas, por obsessão profissional, desdenham a cultura, abandonam as artes e marginalizam a erudição.
Pela cultura, popular e erudita, deveremos reafirmar os traços essenciais de uma identidade capaz de ser uma garantia superior e efectiva dos direitos e da liberdade de cada um. Substituir a mítica grandeza nacional pela liberdade e dignidade do cidadão. O próprio do Príncipe ou da República, na sua mais nobre acepção, consiste na defesa e na protecção dos cidadãos. Em termos actuais, o próprio do Estado, em tempos de globalização, é a defesa e a protecção dos cidadãos. E a identidade é um factor de liberdade.
A valorização do espaço público é princípio que deveria fazer parte de um novo credo. O espaço público onde se vive e passeia. O espaço pública onde se trabalha e conversa. O espaço público onde se discute e confraterniza. Os jardins e as ruas compõem esse espaço público, tal como as instituições, a paisagem, as escolas, os locais de arte e espectáculos e a televisão. As cidades são, muito especialmente na nossa civilização, o espaço público por definição. Ora, em Portugal, as cidades são frequentemente pouco acolhedoras, desconfortáveis, por vezes violentas. As cidades são mal organizadas e deixadas ao abandono e ao lixo. Respeitar e enriquecer o espaço público como se fosse nosso é valor que a todos deveria guiar. É sobretudo exemplo que as autoridades autárquicas deveriam dar todos os dias.
O desenvolvimento e a consolidação de uma sociedade plural são orientações para o nosso futuro. O que implica desenvolver as condições de uma sociedade onde a exclusão seja cada vez mais difícil. Não apenas da exclusão social, que tanto vigora em Portugal como noutros países ocidentais. Há na verdade fenómenos de exclusão mais antigos, talvez mais graves, que têm vindo a ser afastados do nosso país. Portugal teve uma longa experiência de exclusão política, religiosa, étnica e cultural. Árabes, judeus e católicos; sacerdotes, republicanos e monárquicos; liberais, democratas, socialistas e comunistas; sindicalistas e capitalistas; todos estes foram já uma, duas, três vezes perseguidos, excluídos e até expulsos. Hoje, não é o caso. É um dos raros momentos na época contemporânea em que parece haver lugar para todos. Não é pouca coisa. Este novo pluralismo da sociedade é um bem raro que devemos acarinhar e proteger. E não se pense que se trata de voto piedoso e eterno. Com efeito, em tempos de crise duradoira, é possível que forças centrífugas e contraditórias exerçam pressão contra este pluralismo recente.
Outro princípio, finalmente, o do respeito pela propriedade e pelo investimento. Se olharmos com lucidez, sempre a propriedade foi mal vista e mal encarada. Um dos obstáculos ao desenvolvimento sempre foi esta atávica vontade de conter a propriedade, de dominar o investimento e de condenar as actividades lucrativas. Em dois séculos, perdeu-se propriedade e investimento, por actos de pura cupidez política ou pessoal. A falta de certeza e de segurança na actividade económica sempre nos afligiu. Estimular, promover, atrair e garantir a propriedade e o investimento das pessoas, das famílias e das empresas é outra das revoluções que nos esperam.
Portugal deveria distinguir-se pelo espaço público, pela humanização das instituições, pela cultura do seu povo, pela equidade que promove, pelo serviço de saúde que defende, pela escola de mérito que cultiva, pela identidade que preserva ao serviço da liberdade de cada um. Mais do que a força, a glória e a competitividade, é a humanidade dos costumes e das instituições que nos deveria distinguir.
Eis que parecem desejos, mais do que linhas de rumo. Estou consciente disso. Mas não esqueçamos que são votos informados: na verdade, em todas estas prioridades, da liberdade individual ao cuidado pelo espaço público, está inscrita a vontade de contrariar tendências longas na sociedade portuguesa. A liberdade individual, por exemplo, não tem antiga tradição entre nós, quando comparada com o paternalismo ou o despotismo, esclarecido ou não. A dependência dos cidadãos perante os grandes poderes, nomeadamente o Estado, tem sido tradicionalmente uma constante da nossa história.
Com igual permanência se deve referir a reduzida participação dos cidadãos na vida colectiva e no espaço público. Os Portugueses sofrem de uma falta atávica de informação. O segredo de Estado tem uma constância estranha. O método do facto consumado parece ter conquistado dirigentes políticos de várias crenças, idades e convicções. A situação actual é paradigmática. Apesar dos progressos da sociedade aberta e da multiplicação de canais e vias de informação, os Portugueses sentem e sabem que não conhecem, a tempo, o teor dos problemas que nos afligem. A evolução da dívida nacional e da dívida pública, por exemplo, foi escondida dos cidadãos durante anos. Ainda hoje é difícil, se não impossível, saber as causas e as origens da aceleração brutal do endividamento. A política de austeridade que se seguiu, inevitável em muitos dos seus vectores, está a ser imposta num clima de débil informação. Ora, esta não é evidentemente um fim em si próprio. A informação produz conhecimento e liberdade, mas também participação e envolvimento. O que os poderes públicos estão a exigir dos Portugueses exige um esforço ilimitado de explicação e uma tentativa sincera e honesta de chamar os cidadãos a assumir as suas responsabilidades. Além de tudo, os poderes públicos, mesmo em tempo de crise grave, habituaram-se a apenas privilegiar a divisão e o método adversativo de conduzir a política. Nas negociações internacionais e europeias em que Portugal se tem empenhado, pela força das circunstâncias, nos últimos meses, quase sempre imperou o factor divisor entre as forças políticas. A certo momento, pensou-se que um esforço de unidade tinha dado resultados. Infelizmente, depressa se verificou que os competidores e adversários regressavam, com toda a sua energia à oposição, à contradição e à indisponibilidade para a informação e a negociação. Ora, na actualidade, tanto nacional como internacional, é fundamental que um esforço comum se sobreponha ao bairrismo partidário.
Em conclusão: conhecemos o legado histórico e estamos ao corrente das enormes dificuldades impostas pelas circunstâncias internas e externas. Mas a vontade do povo exprime-se pouco e mal. E as decisões dos dirigentes políticos e das elites sociais são mal conhecidas, mal preparadas e pouco comunicadas. Em todo o caso, pouco ou nada participadas. Dessa maneira, podemos esperar passividade ou indiferença, mas também revolta ou contrariedade. Desenhar um rumo, sem a tentação visionária, exige coesão e participação. Estas constituem hoje talvez os mais sérios défices da sociedade portuguesa.
-A humanidade tem, desde há muito, esse privilégio único: o de poder conhecer o passado e estudar o presente. Ter consciência de si, como sujeito ou como sociedade: perceber as origens e os antepassados e olhar para o presente de modo informado fazem parte dos nossos atributos humanos. Atrevidos como somos, depressa desafiámos os deuses e quisemos determinar o horizonte, desenhar o rumo e prever o futuro. Não faltam, no património cultural e na história do pensamento, as previsões, os projectos, as construções e as utopias mais variadas. Um olhar lúcido sobre essas criações e tentativas levar-nos-á a perceber que as previsões depressa se revelaram insuficientes ou erradas. As melhores estratégias esbarraram no imprevisto. Os mais perfeitos projectos de futuro tornaram-se antecipações culturalmente interessantes, mas que dizem mais sobre os fantasmas dos seus criadores do que sobre as capacidades de concretização. E, no entanto, não desistimos.
Com o desenvolvimento das ciências, cada vez estamos mais convencidos de que seremos capazes de traçar as linhas essenciais do futuro. A um político, a um filósofo ou a um economista, não hesitamos em pedir-lhe previsões e desígnios. Um partido que se preza publica a sua visão do mundo, o que quer dizer simplesmente a previsão do que será o futuro de acordo com a sua vontade. E as suas promessas. Em momento de crise, como em tempo de prosperidade, não falta a pergunta da praxe: “Para onde vamos?”. As respostas são geralmente precisas e voluntaristas, mas também erradas e rapidamente ultrapassadas. Quem, há vinte ou trinta anos, podia prever ou sequer suspeitar do que vivemos hoje? Da emergência da China como potência de primeiro plano à crise financeira da primeira década do século XXI; do fim do apartheid à implosão do universo comunista; do terrorismo endémico na sociedade internacional ao desemprego crónico nos países mais desenvolvidos do mundo; quem previu ou antecipou?
Se viermos só a Portugal, o imprevisto é de dimensão equivalente. Os vinte anos de desenvolvimento notável, seguidos de dez de crise excepcionalmente dura; a chegada de algumas centenas de milhares trabalhadores estrangeiros; o envelhecimento acelerado da população; a quebra rápida da natalidade; a redução formidável da mortalidade infantil; e até o brutal endividamento público e privado dos Portugueses: eis apenas alguns factos não previstos e não antecipados, mas que hoje moldam os nossos comportamentos e condicionam as nossas vidas.
Regresso ao tema inicial: Um rumo para Portugal. O rumo de um país define-se no cruzamento entre o legado, a vontade e as circunstâncias. Em parte, a história e o presente condicionam o futuro e os caminhos a percorrer. Em parte também, a vontade dos povos, particularmente dos seus dirigentes, contribui para o desenho do horizonte e o traçado dos percursos. Finalmente, as circunstâncias pesam consideravelmente na determinação do campo do possível. As circunstâncias podem ser de ordem interna ou externa. No primeiro caso, avultam a geografia e os recursos materiais e económicos. No segundo, as relações internacionais, começando pela política e pela economia e passando pela ecologia e a ciência, devem ser mencionadas como condicionantes de peso.
O rumo de uma nação ou de um país depende de todos estes factores e do modo como se realiza este cruzamento. Para nada serve sonhar um rumo impossível e fantasioso, a não ser como divertimento lúdico. Ou antes, pode servir como inspiração ou exercício, mas não como construção política do futuro. A verdade é que, mais do que nunca na nossa história, faz-se sentir o peso das circunstâncias externas, do preço do petróleo à economia internacional, das instituições europeias em crise aos efeitos da globalização. Esta última, aliás, é a grande parteira da dependência ou das interdependências, que nos tornam mais condicionados pelas circunstâncias que nos ultrapassam.
A vontade de um povo e dos seus dirigentes merece menção especial. Quando inteligentes, os visionários, são certamente interessantes, mas, muitas vezes, inúteis. Os melhores são os que prefiguram o encontro entre o possível e a liberdade de escolha. Quando de elevada qualidade filosófica, politica ou cultural, os visionários oferecem-nos uma inspiração fértil. Se autoproclamados iluminados, não passam de vendedores de sonhos.
Por que se fala tanto de incerteza, tema genérico desta Conferência? Porque o rumo é inseguro e mal definido, com certeza. Mas porquê? Porque existe uma crise de recursos. Porque as circunstâncias externas imprimem um clima de incerteza. Porque a Europa está ela própria em crise. Porque as nações e os Estados europeus procuram, sem o encontrar, o seu próprio rumo. Porque a globalização aumenta as exigências de definição da vontade de um povo. Porque o povo português e os seus dirigentes têm adiado o debate, a procura e a definição de um rumo. Porque, finalmente, se tem aprofundado a clivagem entre os dirigentes e o povo.
Curioso é o paradoxo actual segundo o qual o aumento da incerteza parece proporcional ao aumento das capacidades de previsão. Nunca como hoje tivemos ao nosso alcance tantos instrumentos de diagnóstico, medida e previsão. Nunca como hoje tivemos à disposição tantos métodos e técnicas de gestão e de planeamento, capazes até de lidar com o imprevisível. Mas também nunca como hoje vivemos tanto sob o signo da incerteza. Dependemos todos, cada vez mais, uns dos outros. A globalização trouxe uma autêntica cadeia de causas, efeitos e repercussões por inércia que fazem com que todos os povos sintam as consequências do que se passa em qualquer sítio do mundo. “Isto anda tudo ligado”: frase antiga e cliché habitual, que nunca foi tão verdade como agora.
Pode parecer paradoxal, mas é justamente porque penso que é difícil ou mesmo impossível prever o futuro ou traçar um rumo com elevado grau de probabilidade, que penso também que é nossa obrigação, cidadãos e dirigentes, procurar caminhos e debater possibilidades. Porque se trata de incerteza generalizada. Mas também porque é essa atitude que nos permite fazer melhores escolhas. Na verdade, o futuro é feito de miríades de decisões, individuais ou colectivas, tomadas todos os dias. São essas escolhas e essas decisões que, aparentemente inócuas ou sem alcance, acabam por formar vontades colectivas e sobretudo determinam a margem de liberdade que temos diante de nós. Apesar da beleza poética da fórmula, não acredito que “o caminho se faça caminhando”. Talvez seja verdade noutros domínios, noutras áreas, na literatura, nas artes ou nos sentimentos. Mas, no percurso colectivo de um povo, aumentam a liberdade e a segurança se conhecermos, a traços largos, o caminho e o itinerário que queremos delinear.
Olhando para o nosso país, nesta década que apenas começa e já se revela ser de enorme dificuldade, não me parece descabido enumerar algumas balizas que, sem serem dogmáticas, são aquelas que me parecem ser mais calhadas para a nossa liberdade individual e colectiva. Haverá outras escolhas, estas são as que proponho.
A Europa no centro dos nossos horizontes: eis o eixo central das linhas definidoras de um rumo possível. Todos os argumentos pesam nesse sentido. Desde os emigrantes, que foram a nossa primeira contribuição para a integração europeia, até à comunidade de legado e património. Tudo nos faz olhar para a Europa. Dela vieram princípios e tradições, do Cristianismo às “Luzes”, da democracia ao Estado social. Na Europa encontrámos refúgio, nos anos difíceis da revolução de 1975 e da descolonização desajeitadamente levada a cabo. Da Europa vieram também os principais estímulos para as grandes mudanças sociais, económicas e políticas dos anos sessenta a oitenta. Hoje, mesmo com a União Europeia em crise certa e em momento de provável transformação, os Portugueses não devem reagir com medo ou passividade, antes se devem empenhar em encontrar novas soluções no quadro europeu. Fora dele, talvez o isolamento e a pobreza esperem por nós. E provavelmente menos liberdade.
Ao lado da Europa, em complemento da Europa, olhemos para as comunidades portuguesas a viverem em três ou quatro continentes, nomeadamente na Europa, também. A nação portuguesa é de tal modo feita que as comunidades fazem parte integrante da cultura e do modo de viver. Uma política que as envolva no percurso colectivo não se faz por misericórdia ou nostalgia. Faz-se porque reforça a nação e a sua identidade. Esta última não é um devaneio cultural (e se fosse não haveria mal nisso...), é um factor de autonomia que aumenta a nossa liberdade.
Internamente, a equidade, a procura de uma maior equidade, deveria fazer parte do nosso horizonte. Por razões de vária ordem, carregamos, mais do que outros povos, um fardo de desigualdade excessiva. Há qualquer coisa na sociedade portuguesa, nos seus costumes e na sua história, nas estruturas sociais e na função da propriedade, nas relações humanas e sociais e na organização do Estado, que faz com que sejamos mais desiguais do que a maior parte dos países ocidentais. Ora, a equidade não é apenas um acto de solidariedade, misericórdia ou generosidade. É também, sabe-se cada dia melhor, um factor de coesão e de desenvolvimento. A equidade aumenta a participação dos povos, reforça o sentido de responsabilidade e estimula a recompensa e o mérito.
Para que a equidade tenha um significado, é necessário assegurar que a Justiça funcione e cumpra os seus deveres. O que, infelizmente, não é o caso entre nós. Por isso, a Justiça deveria estar no centro das prioridades nacionais. A Justiça portuguesa não se adaptou bem a uma sociedade aberta e democrática; a um tempo industrial, nem a uma sociedade da informação e conhecimento; ao mercado aberto e à globalização; a um regime constitucional de reconhecimento de direitos e deveres; a um Estado de Direito em desenvolvimento. A Justiça portuguesa ficou prisioneira de corpos profissionais poderosos, de tradições rurais e despóticas e de métodos burocráticos e autocráticos. Com tudo isso, é também a liberdade individual que fica prejudicada.
Ora, a liberdade individual num país como o nosso, de tradição paternalista ou autoritária, tem valor revolucionário. Vivemos décadas ou séculos em que o “interesse nacional”, interpretado por alguns e quase sempre equiparado ao “interesse do Estado”, se sobrepôs às liberdades individuais. Estas nunca foram fundadoras do Estado. Os direitos de grupos e as prerrogativas de corporações e famílias, sem falar nos interesses do Estado e do poder político, levaram sempre a melhor sobre a liberdade individual. Triste sina a de um povo onde o mero termo de “liberal” é mal visto e negativamente avaliado!
A cultura do povo deveria estar no topo das nossas urgências. Não falo da “cultura popular”, indispensável, rica e persistente. Para essa, não é preciso elaborar políticas públicas. Basta deixá-la viver, respeitá-la e não a ferir. É à “alta cultura” que me refiro. O termo é estranho, está mesmo hoje condenado por elitista. Mas foi erro histórico. Essa cultura é o legado comum da humanidade, dos povos ocidentais no nosso caso. Essa cultura, cuja permanência e sobrevivência não estiveram em causa durante séculos, está hoje arrumada em bibliotecas e afastada das escolas e das universidades. A formação cultural é o mais sério instrumento de libertação e de igualdade. Mais do que a formação técnica. Os Portugueses, por séculos de pobreza, de analfabetismo e desigualdade, tiveram reduzido acesso à cultura. Hoje, as escolas, por obsessão profissional, desdenham a cultura, abandonam as artes e marginalizam a erudição.
Pela cultura, popular e erudita, deveremos reafirmar os traços essenciais de uma identidade capaz de ser uma garantia superior e efectiva dos direitos e da liberdade de cada um. Substituir a mítica grandeza nacional pela liberdade e dignidade do cidadão. O próprio do Príncipe ou da República, na sua mais nobre acepção, consiste na defesa e na protecção dos cidadãos. Em termos actuais, o próprio do Estado, em tempos de globalização, é a defesa e a protecção dos cidadãos. E a identidade é um factor de liberdade.
A valorização do espaço público é princípio que deveria fazer parte de um novo credo. O espaço público onde se vive e passeia. O espaço pública onde se trabalha e conversa. O espaço público onde se discute e confraterniza. Os jardins e as ruas compõem esse espaço público, tal como as instituições, a paisagem, as escolas, os locais de arte e espectáculos e a televisão. As cidades são, muito especialmente na nossa civilização, o espaço público por definição. Ora, em Portugal, as cidades são frequentemente pouco acolhedoras, desconfortáveis, por vezes violentas. As cidades são mal organizadas e deixadas ao abandono e ao lixo. Respeitar e enriquecer o espaço público como se fosse nosso é valor que a todos deveria guiar. É sobretudo exemplo que as autoridades autárquicas deveriam dar todos os dias.
O desenvolvimento e a consolidação de uma sociedade plural são orientações para o nosso futuro. O que implica desenvolver as condições de uma sociedade onde a exclusão seja cada vez mais difícil. Não apenas da exclusão social, que tanto vigora em Portugal como noutros países ocidentais. Há na verdade fenómenos de exclusão mais antigos, talvez mais graves, que têm vindo a ser afastados do nosso país. Portugal teve uma longa experiência de exclusão política, religiosa, étnica e cultural. Árabes, judeus e católicos; sacerdotes, republicanos e monárquicos; liberais, democratas, socialistas e comunistas; sindicalistas e capitalistas; todos estes foram já uma, duas, três vezes perseguidos, excluídos e até expulsos. Hoje, não é o caso. É um dos raros momentos na época contemporânea em que parece haver lugar para todos. Não é pouca coisa. Este novo pluralismo da sociedade é um bem raro que devemos acarinhar e proteger. E não se pense que se trata de voto piedoso e eterno. Com efeito, em tempos de crise duradoira, é possível que forças centrífugas e contraditórias exerçam pressão contra este pluralismo recente.
Outro princípio, finalmente, o do respeito pela propriedade e pelo investimento. Se olharmos com lucidez, sempre a propriedade foi mal vista e mal encarada. Um dos obstáculos ao desenvolvimento sempre foi esta atávica vontade de conter a propriedade, de dominar o investimento e de condenar as actividades lucrativas. Em dois séculos, perdeu-se propriedade e investimento, por actos de pura cupidez política ou pessoal. A falta de certeza e de segurança na actividade económica sempre nos afligiu. Estimular, promover, atrair e garantir a propriedade e o investimento das pessoas, das famílias e das empresas é outra das revoluções que nos esperam.
Portugal deveria distinguir-se pelo espaço público, pela humanização das instituições, pela cultura do seu povo, pela equidade que promove, pelo serviço de saúde que defende, pela escola de mérito que cultiva, pela identidade que preserva ao serviço da liberdade de cada um. Mais do que a força, a glória e a competitividade, é a humanidade dos costumes e das instituições que nos deveria distinguir.
Eis que parecem desejos, mais do que linhas de rumo. Estou consciente disso. Mas não esqueçamos que são votos informados: na verdade, em todas estas prioridades, da liberdade individual ao cuidado pelo espaço público, está inscrita a vontade de contrariar tendências longas na sociedade portuguesa. A liberdade individual, por exemplo, não tem antiga tradição entre nós, quando comparada com o paternalismo ou o despotismo, esclarecido ou não. A dependência dos cidadãos perante os grandes poderes, nomeadamente o Estado, tem sido tradicionalmente uma constante da nossa história.
Com igual permanência se deve referir a reduzida participação dos cidadãos na vida colectiva e no espaço público. Os Portugueses sofrem de uma falta atávica de informação. O segredo de Estado tem uma constância estranha. O método do facto consumado parece ter conquistado dirigentes políticos de várias crenças, idades e convicções. A situação actual é paradigmática. Apesar dos progressos da sociedade aberta e da multiplicação de canais e vias de informação, os Portugueses sentem e sabem que não conhecem, a tempo, o teor dos problemas que nos afligem. A evolução da dívida nacional e da dívida pública, por exemplo, foi escondida dos cidadãos durante anos. Ainda hoje é difícil, se não impossível, saber as causas e as origens da aceleração brutal do endividamento. A política de austeridade que se seguiu, inevitável em muitos dos seus vectores, está a ser imposta num clima de débil informação. Ora, esta não é evidentemente um fim em si próprio. A informação produz conhecimento e liberdade, mas também participação e envolvimento. O que os poderes públicos estão a exigir dos Portugueses exige um esforço ilimitado de explicação e uma tentativa sincera e honesta de chamar os cidadãos a assumir as suas responsabilidades. Além de tudo, os poderes públicos, mesmo em tempo de crise grave, habituaram-se a apenas privilegiar a divisão e o método adversativo de conduzir a política. Nas negociações internacionais e europeias em que Portugal se tem empenhado, pela força das circunstâncias, nos últimos meses, quase sempre imperou o factor divisor entre as forças políticas. A certo momento, pensou-se que um esforço de unidade tinha dado resultados. Infelizmente, depressa se verificou que os competidores e adversários regressavam, com toda a sua energia à oposição, à contradição e à indisponibilidade para a informação e a negociação. Ora, na actualidade, tanto nacional como internacional, é fundamental que um esforço comum se sobreponha ao bairrismo partidário.
Em conclusão: conhecemos o legado histórico e estamos ao corrente das enormes dificuldades impostas pelas circunstâncias internas e externas. Mas a vontade do povo exprime-se pouco e mal. E as decisões dos dirigentes políticos e das elites sociais são mal conhecidas, mal preparadas e pouco comunicadas. Em todo o caso, pouco ou nada participadas. Dessa maneira, podemos esperar passividade ou indiferença, mas também revolta ou contrariedade. Desenhar um rumo, sem a tentação visionária, exige coesão e participação. Estas constituem hoje talvez os mais sérios défices da sociedade portuguesa.
(*) - IV Conferência Internacional do Funchal
Funchal, 4 e 5 de Novembro de 2011
quarta-feira, 9 de novembro de 2011
domingo, 6 de novembro de 2011
Dia da Universidade
.
-
Universidade Nova de Lisboa
Lisboa, 2 de Novembro de 2011
VIVEMOS tempos difíceis. Muito difíceis. Eis um lugar-comum a que, por mais que seja repetido, nunca nos habituaremos, nem nunca ficaremos indiferentes... Ao contrário dos grandes optimistas, não acredito que o próprio da crise seja sempre transformar-se em oportunidade. Às vezes sim, por vezes não. Mas, ao contrário dos pessimistas, não penso que os tempos críticos recomendem a paralisia, nem que não se possa aproveitar para pensar, repensar e imaginar.
Seria fácil, hoje, nesta cerimónia, tomar a defesa da universidade e chamar a atenção de todos, a começar pelas autoridades, para a necessidade de pensar duas vezes antes de proceder a cortes e reduções de meios, recursos e financiamento. Não sei se seria eficaz, mas seria fácil. No entanto, tal atitude deixar-me-ia sempre perplexo perante uma inquietação maior. Qual a importância relativa de cada sector, cada área, cada instituição, cada grupo humano ou cada problema? Num altura em que cortar, reduzir e poupar são as urgências, qual é a escala de importância? Qual é a prioridade relativa? A universidade é mais urgente e importante que o hospital? O idoso é mais sensível do que o adulto activo? O jardim-escola é prioritário, em detrimento da pensão de reforma? O desempregado merece mais cuidado que o engenheiro produtivo? O que pode ou deve esperar: a dívida, o crescimento ou a equidade? Eis dilemas políticos e morais a que não me compete responder, nem é este o local apropriado.
De qualquer maneira, as respostas que contam são as das autoridades responsáveis e as dos representantes do povo. Mas não me fico por aí. Também devem contar as respostas dos corpos organizados. Por isso mesmo, penso que as universidades portuguesas teriam um papel determinante, fértil e exemplar, se conseguissem reflectir, em comum, à sua estratégia e ao seu futuro e se conseguissem, com credibilidade e razão fundamentada, apresentar ao governo e ao Parlamento um plano a médio e longo prazo, perante o qual as instituições universitárias e as políticas pudessem comprometer-se. Diante de todos. Com o povo como testemunha. Num tempo em que as divisões se acentuam e as contradições florescem, seria um formidável exemplo para todos o esforço feito em comum pelas universidades a fim de contribuir para decisões informadas e razoáveis. Num tempo em que tudo parece ser feito para o curto prazo, para o imediato, sem pensar no futuro, seria um excelente precedente e um muito bom exemplo.
Em dia festivo da universidade, além felicitar os que partem, saudar os que ficam e acolher os que chegam, permito-me convidar-vos a reflectir uns minutos na missão da universidade. Não é mais uma repetição, nem, diante dos graves problemas que se nos deparam, uma fuga para a frente. Em realidade, esta discussão tarda em Portugal. E, aliás, em boa parte da Europa. Se lermos a literatura actual e consultarmos todos os meios de comunicação, a começar pela Internet, depressa verificaremos que, em muitos países, incluindo os que mais se notabilizam pela excelência académica, a discussão sobre a missão da universidade e sobre o seu horizonte futuro está cada vez mais presente. Na verdade, as últimas décadas, entre a explosão demográfica, a popularização do novo termo de “empregabilidade” e a reforma dita de Bolonha, a universidade aprendeu a conviver com as crises e a não se inquietar com “questões abstractas”. O resultado não foi, como se julgou, a criação de uma universidade pragmática, aberta ao mundo, flexível e capaz de responder às aspirações das classes médias. Foi, antes pelo contrário, o da quase liquidação da cabeça pensante das universidades. Nestas, há muita gente que pensa, com certeza. Mas a universidade não se pensa. Preocupada com a procura de recursos e sob a enorme pressão de acolher cada vez maiores massas de pessoas, a universidade foi adiando a reflexão. Hoje, entre a tesoura e o garrote, parece ainda mais difícil pensar a longo prazo. Com uma agravante: os poderes públicos não se interessaram. Governo e Parlamento têm estado estranhamente ausentes nesta reflexão. Ocupados obsessivamente com a gestão de problemas e de finanças, descuram o horizonte e o caminho. Ora, tal como a universidade portuguesa – melhor seria dizer as universidades – cresceu nas últimas décadas, há muito se impõe uma reflexão séria sobre as suas funções e os seus objectivos.
Que universidade queremos dentro de duas ou três décadas? Esta é a pergunta! Actualmente, o que parece urgente e vital são as dificuldades, a crise, a massificação, a precariedade, a miséria de recursos financeiros e a “fuga de cérebros”. Será mesmo isso que é vital? Urgente, talvez seja. Vital, duvido. Verdadeiramente essencial é a resposta à pergunta inicial. Que universidades queremos ter dentro de duas ou três décadas? Não tenhamos ilusões: as pequenas decisões de hoje, embora não pareça, vão moldar as grandes escolhas. O pior, neste processo, é quando não se está consciente desta relação entre presente e futuro.
O exercício que gostava de vos propor consiste em rever aquelas que poderiam ser as missões do futuro. Não todas, mas algumas que decidi privilegiar. A da cultura. A da ciência. E a da cidadania. Poderá haver outras, com certeza, como sejam o ensino e a formação profissional. Mas, se as excluo nesta abordagem, é justamente porque penso que são de menor importância do que aquelas três que referi acima.
A missão da ciência, em primeiro lugar. Parece um cliché. Um lugar-comum. Ou uma porta aberta. Não é. Em Portugal, ao longo das últimas duas décadas, fez-se um formidável esforço de desenvolvimento da ciência. Cresceram as instituições, os cientistas, as bolsas, os projectos e os graus. Como cresceram os artigos e as publicações, embora menos as patentes. Cresceu também a rede internacional na qual Portugal participa. Foram talvez os vinte anos de maior desenvolvimento da ciência, no nosso país, nos últimos séculos. Mas, tenhamos de reconhecer: tudo isso foi feito fora, em detrimento ou contra as universidades. Foi criado um “universo paralelo”. Uma espécie de apartheid. Para a ciência, encontrou-se tudo: recursos, pessoal, bolsas, projectos, contactos, critérios, avaliação, severidade, escrutínio... De nada ou quase nada disso beneficiaram as universidades. Bem sei que muitos dos cientistas e das instituições funcionavam, virtual ou aparentemente, nas universidades. Mas eram simples inquilinos. Enquanto na ciência a adrenalina reinava, no ensino a pobreza crescia. Formaram-se aqui e ali pequenos guetos de prosperidade, rigor e modernidade que pouca influência terão tido sobre o corpo integral das instituições, sobre o ensino em especial.
Esta realidade merece evidentemente análise cuidadosa. É minha convicção que a reforma da universidade e do ensino já não é possível sem uma alteração radical de estratégia. A ciência tem de regressar à universidade e tem mesmo de comandar a definição da missão para o futuro e da respectiva estratégia. É, aliás, uma discussão antiga que o nosso país abafou ou quis evitar. Já nas décadas de cinquenta e sessenta vários professores, a começar por Orlando Ribeiro, afirmavam, contra paredes de silêncio, que a primeira missão da universidade é a busca da verdade, isto é, a ciência, sendo que o ensino é um meio para atingir esse fim. A universidade tem de tomar ou retomar o comando da ciência dentro das suas portas. Tem de saber e ter meios para organizar a investigação e o desenvolvimento de modo integrado, a fim de que todos beneficiem, investigadores, professores e estudantes. As universidades têm de ser responsáveis pela sua ciência!
A democratização da instrução e o acesso de massas às escolas superiores vieram tornar essa discussão ainda mais urgente. O ensino universitário criou todas as ilusões. Ou delas sofreu. A ilusão igualitária foi uma delas. Pelo acesso à universidade, a sociedade seria transformada, a mobilidade garantida e a igualdade assegurada. O acesso à universidade passou a ser um direito de todos os cidadãos. A selecção e o mérito foram moralmente condenados e politicamente denunciados. A ilusão profissional foi outra. A universidade teria como missão preparar os jovens para o exercício de uma profissão. Tornou-se um lugar-comum dizer que as universidades devem preparar para a profissão e o emprego. Os estudos politécnicos, cuja missão era exactamente essa, pouco mais fizeram do que copiar, em piores condições, as universidades. A empregabilidade transformou-se num dos principais critérios de avaliação. A especialização profissional foi desejada e cultivada. Inventaram-se títulos, áreas, diplomas e cursos sem critério nem sensatez, sempre à procura de saídas profissionais de oportunidade duvidosa e expediente fácil. A missão científica da universidade, a permanente procura da verdade e a incansável tentativa de compreender e explicar, foi secundarizada.
A missão da cultura, em segundo lugar. Não receio exagerar se afirmar que as universidades são, deveriam ser, o mais importante repositório de cultura da humanidade. Não só depósito ou património. Mas também fonte de cultura, de desenvolvimento e de criação. Da cultura científica, da cultura humanística e das artes. Há cultura sem universidades, com certeza. Mas universidade sem cultura é um absurdo. Porquê referir esta que parece uma evidência? Porque as últimas décadas reduziram e subestimaram o papel das universidades na cultura. Esta foi considerada dispendiosa, acessória, luxuosa, elitista e até inútil. O primado profissional e prático invadiu os auditórios, as salas e as bibliotecas. Até as associações de estudantes se afastaram da cultura. As escolas vocacionadas para as artes tornaram-se parentes pobres. A cultura geral e a erudição, que deveriam estar presentes em todas as disciplinas, ganharam os tristes estatutos de inutilidade socialmente condenável ou de variante facultativa. As aspirações, certamente nobres e legítimas, à democratização, ao igualitarismo e à vocação profissional consideraram a cultura dispensável. Erro histórico! O que mais distingue socialmente, o que mais discrimina e o que mais desigualdade produz é justamente o acesso à cultura geral, ao património da humanidade e à erudição.
As universidades têm hoje um papel medíocre na aquisição da cultura e na criação cultural. Na música e no teatro, nas artes plásticas, no cinema e na fotografia, na poesia e na literatura, as universidades têm um lugar menor. Na história da arte e da cultura, na defesa do património, na reflexão filosófica sobre o mundo antigo e presente e na procura de horizontes para o nosso futuro colectivo, as universidades parecem ausentes, a não ser, eventualmente, nos departamentos específicos. O cruzamento entre disciplinas diferentes e ciências distantes umas das outras ou a junção entre humanidades, ciências exactas e da natureza e tecnologias foi subalternizado a favor de um esforço mais especializado e dirigido. A obsessão produtiva do ensino e do grau parece ter afastado das prioridades a ideia universal e culta da universidade, cuja formação humanista, integral e integrada, é um fim em si próprio. Não será este o momento, depois da explosão demográfica, da multiplicação institucional, da democratização quase sem critério, da fragmentação disciplinar e das reformas tecnocráticas ditas de Bolonha, não será este o momento, repito, para repensar, rever e corrigir?
A terceira missão é a do empenho das universidades no bem comum. Por outras palavras, a sua participação na vida pública e o seu envolvimento no espaço público. Tem havido, recentemente, sinais de que algo pode mudar. Perante as crises financeiras e económicas, várias iniciativas, com origem universitária, revelaram alguma preocupação de académicos com a discussão dos problemas e a procura de soluções. São bons sinais, mas insuficientes. Na verdade, as universidades têm uma dívida perante a população. Há várias maneiras de a pagar. Uma, a mais evidente, traduz-se em serviço pedagógico e formativo: numa palavra, no ensino. Outra, essencial, toma a forma de investigação. Outra ainda, descurada, é a cultura. Mas há uma quarta, nem sempre evidente: a da contribuição para o estudo, o diagnóstico e a procura de soluções para todos os problemas colectivos, da saúde ao urbanismo, da segurança social à economia e da tecnologia à organização do Estado.
Na verdade, nenhum problema do país deveria ser estranho às universidades. Estas deveriam, com uma preocupação obsessiva de independência e de neutralidade partidária, interessar-se por tudo o que é humano e social, por tudo o que é colectivo. Deveriam, desde logo, fomentar o debate e estimular a participação. Pense-se só nos últimos anos. Processos e decisões tão importantes como os do planeamento urbanístico, da organização das cidades, da estratégia energética, da edificação do aeroporto de Lisboa ou da construção das ferrovias de alta velocidade, não teriam ganho tempo, recursos, clareza e rigor se as universidades tivessem sido chamadas a colaborar? Ou se elas, por iniciativa própria, se tivessem empenhado na discussão de projectos tão decisivos para o nosso futuro colectivo? E outras questões de futuro, como a sustentabilidade da segurança social, a organização do serviço nacional de saúde e a reforma da Justiça, não terão a ganhar em qualidade, em precisão, em transparência e em eficácia com a participação empenhada das universidades? Não poderão estas transformar-se nos espaços de liberdade por excelência? Nos locais de debate aberto ao país? Nas autoras de projectos desinteressados em que os principais critérios sejam a liberdade, a independência e o rigor ao serviço do bem comum?
Sabemos que os universitários não são bacteriologicamente puros nem ideologicamente inertes. São pessoas e cidadãos como toda a gente. Mas o clima universitário, o ambiente académico e o “ethos” científico fazem destas instituições os locais potencialmente privilegiados para fomentar a análise rigorosa, o debate sério, a crítica severa e o pensamento livre. Em tempos tão difíceis como aqueles que vivemos, as universidades não se podem dar ao luxo de perder a oportunidade para pagar a sua dívida ao país e dar o exemplo do que de melhor podem fazer: estudar e pensar!
Seria fácil, hoje, nesta cerimónia, tomar a defesa da universidade e chamar a atenção de todos, a começar pelas autoridades, para a necessidade de pensar duas vezes antes de proceder a cortes e reduções de meios, recursos e financiamento. Não sei se seria eficaz, mas seria fácil. No entanto, tal atitude deixar-me-ia sempre perplexo perante uma inquietação maior. Qual a importância relativa de cada sector, cada área, cada instituição, cada grupo humano ou cada problema? Num altura em que cortar, reduzir e poupar são as urgências, qual é a escala de importância? Qual é a prioridade relativa? A universidade é mais urgente e importante que o hospital? O idoso é mais sensível do que o adulto activo? O jardim-escola é prioritário, em detrimento da pensão de reforma? O desempregado merece mais cuidado que o engenheiro produtivo? O que pode ou deve esperar: a dívida, o crescimento ou a equidade? Eis dilemas políticos e morais a que não me compete responder, nem é este o local apropriado.
De qualquer maneira, as respostas que contam são as das autoridades responsáveis e as dos representantes do povo. Mas não me fico por aí. Também devem contar as respostas dos corpos organizados. Por isso mesmo, penso que as universidades portuguesas teriam um papel determinante, fértil e exemplar, se conseguissem reflectir, em comum, à sua estratégia e ao seu futuro e se conseguissem, com credibilidade e razão fundamentada, apresentar ao governo e ao Parlamento um plano a médio e longo prazo, perante o qual as instituições universitárias e as políticas pudessem comprometer-se. Diante de todos. Com o povo como testemunha. Num tempo em que as divisões se acentuam e as contradições florescem, seria um formidável exemplo para todos o esforço feito em comum pelas universidades a fim de contribuir para decisões informadas e razoáveis. Num tempo em que tudo parece ser feito para o curto prazo, para o imediato, sem pensar no futuro, seria um excelente precedente e um muito bom exemplo.
Em dia festivo da universidade, além felicitar os que partem, saudar os que ficam e acolher os que chegam, permito-me convidar-vos a reflectir uns minutos na missão da universidade. Não é mais uma repetição, nem, diante dos graves problemas que se nos deparam, uma fuga para a frente. Em realidade, esta discussão tarda em Portugal. E, aliás, em boa parte da Europa. Se lermos a literatura actual e consultarmos todos os meios de comunicação, a começar pela Internet, depressa verificaremos que, em muitos países, incluindo os que mais se notabilizam pela excelência académica, a discussão sobre a missão da universidade e sobre o seu horizonte futuro está cada vez mais presente. Na verdade, as últimas décadas, entre a explosão demográfica, a popularização do novo termo de “empregabilidade” e a reforma dita de Bolonha, a universidade aprendeu a conviver com as crises e a não se inquietar com “questões abstractas”. O resultado não foi, como se julgou, a criação de uma universidade pragmática, aberta ao mundo, flexível e capaz de responder às aspirações das classes médias. Foi, antes pelo contrário, o da quase liquidação da cabeça pensante das universidades. Nestas, há muita gente que pensa, com certeza. Mas a universidade não se pensa. Preocupada com a procura de recursos e sob a enorme pressão de acolher cada vez maiores massas de pessoas, a universidade foi adiando a reflexão. Hoje, entre a tesoura e o garrote, parece ainda mais difícil pensar a longo prazo. Com uma agravante: os poderes públicos não se interessaram. Governo e Parlamento têm estado estranhamente ausentes nesta reflexão. Ocupados obsessivamente com a gestão de problemas e de finanças, descuram o horizonte e o caminho. Ora, tal como a universidade portuguesa – melhor seria dizer as universidades – cresceu nas últimas décadas, há muito se impõe uma reflexão séria sobre as suas funções e os seus objectivos.
Que universidade queremos dentro de duas ou três décadas? Esta é a pergunta! Actualmente, o que parece urgente e vital são as dificuldades, a crise, a massificação, a precariedade, a miséria de recursos financeiros e a “fuga de cérebros”. Será mesmo isso que é vital? Urgente, talvez seja. Vital, duvido. Verdadeiramente essencial é a resposta à pergunta inicial. Que universidades queremos ter dentro de duas ou três décadas? Não tenhamos ilusões: as pequenas decisões de hoje, embora não pareça, vão moldar as grandes escolhas. O pior, neste processo, é quando não se está consciente desta relação entre presente e futuro.
O exercício que gostava de vos propor consiste em rever aquelas que poderiam ser as missões do futuro. Não todas, mas algumas que decidi privilegiar. A da cultura. A da ciência. E a da cidadania. Poderá haver outras, com certeza, como sejam o ensino e a formação profissional. Mas, se as excluo nesta abordagem, é justamente porque penso que são de menor importância do que aquelas três que referi acima.
A missão da ciência, em primeiro lugar. Parece um cliché. Um lugar-comum. Ou uma porta aberta. Não é. Em Portugal, ao longo das últimas duas décadas, fez-se um formidável esforço de desenvolvimento da ciência. Cresceram as instituições, os cientistas, as bolsas, os projectos e os graus. Como cresceram os artigos e as publicações, embora menos as patentes. Cresceu também a rede internacional na qual Portugal participa. Foram talvez os vinte anos de maior desenvolvimento da ciência, no nosso país, nos últimos séculos. Mas, tenhamos de reconhecer: tudo isso foi feito fora, em detrimento ou contra as universidades. Foi criado um “universo paralelo”. Uma espécie de apartheid. Para a ciência, encontrou-se tudo: recursos, pessoal, bolsas, projectos, contactos, critérios, avaliação, severidade, escrutínio... De nada ou quase nada disso beneficiaram as universidades. Bem sei que muitos dos cientistas e das instituições funcionavam, virtual ou aparentemente, nas universidades. Mas eram simples inquilinos. Enquanto na ciência a adrenalina reinava, no ensino a pobreza crescia. Formaram-se aqui e ali pequenos guetos de prosperidade, rigor e modernidade que pouca influência terão tido sobre o corpo integral das instituições, sobre o ensino em especial.
Esta realidade merece evidentemente análise cuidadosa. É minha convicção que a reforma da universidade e do ensino já não é possível sem uma alteração radical de estratégia. A ciência tem de regressar à universidade e tem mesmo de comandar a definição da missão para o futuro e da respectiva estratégia. É, aliás, uma discussão antiga que o nosso país abafou ou quis evitar. Já nas décadas de cinquenta e sessenta vários professores, a começar por Orlando Ribeiro, afirmavam, contra paredes de silêncio, que a primeira missão da universidade é a busca da verdade, isto é, a ciência, sendo que o ensino é um meio para atingir esse fim. A universidade tem de tomar ou retomar o comando da ciência dentro das suas portas. Tem de saber e ter meios para organizar a investigação e o desenvolvimento de modo integrado, a fim de que todos beneficiem, investigadores, professores e estudantes. As universidades têm de ser responsáveis pela sua ciência!
A democratização da instrução e o acesso de massas às escolas superiores vieram tornar essa discussão ainda mais urgente. O ensino universitário criou todas as ilusões. Ou delas sofreu. A ilusão igualitária foi uma delas. Pelo acesso à universidade, a sociedade seria transformada, a mobilidade garantida e a igualdade assegurada. O acesso à universidade passou a ser um direito de todos os cidadãos. A selecção e o mérito foram moralmente condenados e politicamente denunciados. A ilusão profissional foi outra. A universidade teria como missão preparar os jovens para o exercício de uma profissão. Tornou-se um lugar-comum dizer que as universidades devem preparar para a profissão e o emprego. Os estudos politécnicos, cuja missão era exactamente essa, pouco mais fizeram do que copiar, em piores condições, as universidades. A empregabilidade transformou-se num dos principais critérios de avaliação. A especialização profissional foi desejada e cultivada. Inventaram-se títulos, áreas, diplomas e cursos sem critério nem sensatez, sempre à procura de saídas profissionais de oportunidade duvidosa e expediente fácil. A missão científica da universidade, a permanente procura da verdade e a incansável tentativa de compreender e explicar, foi secundarizada.
A missão da cultura, em segundo lugar. Não receio exagerar se afirmar que as universidades são, deveriam ser, o mais importante repositório de cultura da humanidade. Não só depósito ou património. Mas também fonte de cultura, de desenvolvimento e de criação. Da cultura científica, da cultura humanística e das artes. Há cultura sem universidades, com certeza. Mas universidade sem cultura é um absurdo. Porquê referir esta que parece uma evidência? Porque as últimas décadas reduziram e subestimaram o papel das universidades na cultura. Esta foi considerada dispendiosa, acessória, luxuosa, elitista e até inútil. O primado profissional e prático invadiu os auditórios, as salas e as bibliotecas. Até as associações de estudantes se afastaram da cultura. As escolas vocacionadas para as artes tornaram-se parentes pobres. A cultura geral e a erudição, que deveriam estar presentes em todas as disciplinas, ganharam os tristes estatutos de inutilidade socialmente condenável ou de variante facultativa. As aspirações, certamente nobres e legítimas, à democratização, ao igualitarismo e à vocação profissional consideraram a cultura dispensável. Erro histórico! O que mais distingue socialmente, o que mais discrimina e o que mais desigualdade produz é justamente o acesso à cultura geral, ao património da humanidade e à erudição.
As universidades têm hoje um papel medíocre na aquisição da cultura e na criação cultural. Na música e no teatro, nas artes plásticas, no cinema e na fotografia, na poesia e na literatura, as universidades têm um lugar menor. Na história da arte e da cultura, na defesa do património, na reflexão filosófica sobre o mundo antigo e presente e na procura de horizontes para o nosso futuro colectivo, as universidades parecem ausentes, a não ser, eventualmente, nos departamentos específicos. O cruzamento entre disciplinas diferentes e ciências distantes umas das outras ou a junção entre humanidades, ciências exactas e da natureza e tecnologias foi subalternizado a favor de um esforço mais especializado e dirigido. A obsessão produtiva do ensino e do grau parece ter afastado das prioridades a ideia universal e culta da universidade, cuja formação humanista, integral e integrada, é um fim em si próprio. Não será este o momento, depois da explosão demográfica, da multiplicação institucional, da democratização quase sem critério, da fragmentação disciplinar e das reformas tecnocráticas ditas de Bolonha, não será este o momento, repito, para repensar, rever e corrigir?
A terceira missão é a do empenho das universidades no bem comum. Por outras palavras, a sua participação na vida pública e o seu envolvimento no espaço público. Tem havido, recentemente, sinais de que algo pode mudar. Perante as crises financeiras e económicas, várias iniciativas, com origem universitária, revelaram alguma preocupação de académicos com a discussão dos problemas e a procura de soluções. São bons sinais, mas insuficientes. Na verdade, as universidades têm uma dívida perante a população. Há várias maneiras de a pagar. Uma, a mais evidente, traduz-se em serviço pedagógico e formativo: numa palavra, no ensino. Outra, essencial, toma a forma de investigação. Outra ainda, descurada, é a cultura. Mas há uma quarta, nem sempre evidente: a da contribuição para o estudo, o diagnóstico e a procura de soluções para todos os problemas colectivos, da saúde ao urbanismo, da segurança social à economia e da tecnologia à organização do Estado.
Na verdade, nenhum problema do país deveria ser estranho às universidades. Estas deveriam, com uma preocupação obsessiva de independência e de neutralidade partidária, interessar-se por tudo o que é humano e social, por tudo o que é colectivo. Deveriam, desde logo, fomentar o debate e estimular a participação. Pense-se só nos últimos anos. Processos e decisões tão importantes como os do planeamento urbanístico, da organização das cidades, da estratégia energética, da edificação do aeroporto de Lisboa ou da construção das ferrovias de alta velocidade, não teriam ganho tempo, recursos, clareza e rigor se as universidades tivessem sido chamadas a colaborar? Ou se elas, por iniciativa própria, se tivessem empenhado na discussão de projectos tão decisivos para o nosso futuro colectivo? E outras questões de futuro, como a sustentabilidade da segurança social, a organização do serviço nacional de saúde e a reforma da Justiça, não terão a ganhar em qualidade, em precisão, em transparência e em eficácia com a participação empenhada das universidades? Não poderão estas transformar-se nos espaços de liberdade por excelência? Nos locais de debate aberto ao país? Nas autoras de projectos desinteressados em que os principais critérios sejam a liberdade, a independência e o rigor ao serviço do bem comum?
Sabemos que os universitários não são bacteriologicamente puros nem ideologicamente inertes. São pessoas e cidadãos como toda a gente. Mas o clima universitário, o ambiente académico e o “ethos” científico fazem destas instituições os locais potencialmente privilegiados para fomentar a análise rigorosa, o debate sério, a crítica severa e o pensamento livre. Em tempos tão difíceis como aqueles que vivemos, as universidades não se podem dar ao luxo de perder a oportunidade para pagar a sua dívida ao país e dar o exemplo do que de melhor podem fazer: estudar e pensar!
-
Universidade Nova de Lisboa
Lisboa, 2 de Novembro de 2011
domingo, 30 de outubro de 2011
Luz - Comboio de Vila Real à Régua, Linha do Corgo, 1983
.
Esta linha está hoje “fechada para obras” há vários anos. Já se percebeu que nunca mais abrirá. Nos últimos anos em que funcionou, já não era esta preciosa locomotiva a vapor, mas uma automotora a diesel. Este percurso era fantástico, quase tão espectacular como o da Linha do Tua, igualmente fechada. Fiz este trajecto centenas de vezes. Por aqui se ia de férias, ao Porto, a Lisboa, para o mundo... Nas descidas, o comboio acelerava à velocidade estonteante de 50 km à hora. A subir ou em plano, o normal eram uns vinte a trinta à hora! Os 24 km de Vila Real à Régua percorriam-se em cerca de uma hora, com seis apeadeiros. Os soldados que viajavam neste comboio, atrevidos, várias vezes saltavam da composição, corriam uns metros e voltavam a entrar. Faziam-no para apanhar uvas e impressionar as raparigas!
.
Actualização em 10 Dez 11
ERRATA
ERRATA
A 30 de Outubro deste ano, publiquei, no Sorumbático e no Jacarandá, uma fotografia de uma linha de comboio, em zona de montanha, com carris de via reduzida, com locomotiva ao fundo e algumas pessoas ao lado da via. O título que lhe dei foi: “Comboio de Vila Real à Régua, Linha do Corgo, 1983”.
Entre a correspondência que então recebi, conta-se a observação de Dario Silva. Dizia ele, no essencial, que não podia ser na linha do Corgo. Este leitor conhecia tudo de comboios em Portugal e garantia que aquela locomotiva não podia ter circulado em Portugal.
Fiquei impressionado com os argumentos. Procurei nos meus arquivos (ainda não completamente catalogados e arrumados como deveriam estar... mas não perdem pela demora!) e finalmente encontrei. Dario Silva tinha toda a razão. A fotografia foi feita em 1971, no Peru, na linha de comboio que vai de Cuzco a um apeadeiro perto de Machu Pichu (o último troço da viagem era feito, naquela altura, em camionetas). A
qui fica a rectificação, com um agradecimento e uma vénia ao meu correspondente Dario Silva, que, aliás, me brindou com várias mensagens e documentação própria de uma verdadeira enciclopédia ferroviária!”.
Entre a correspondência que então recebi, conta-se a observação de Dario Silva. Dizia ele, no essencial, que não podia ser na linha do Corgo. Este leitor conhecia tudo de comboios em Portugal e garantia que aquela locomotiva não podia ter circulado em Portugal.
Fiquei impressionado com os argumentos. Procurei nos meus arquivos (ainda não completamente catalogados e arrumados como deveriam estar... mas não perdem pela demora!) e finalmente encontrei. Dario Silva tinha toda a razão. A fotografia foi feita em 1971, no Peru, na linha de comboio que vai de Cuzco a um apeadeiro perto de Machu Pichu (o último troço da viagem era feito, naquela altura, em camionetas). A
qui fica a rectificação, com um agradecimento e uma vénia ao meu correspondente Dario Silva, que, aliás, me brindou com várias mensagens e documentação própria de uma verdadeira enciclopédia ferroviária!”.
quinta-feira, 27 de outubro de 2011
«Roriz, História de uma quinta no coração do Douro»
.
 Gaspar Martins Pereira / Edições Afrontamento, 2011
Gaspar Martins Pereira / Edições Afrontamento, 2011
 Gaspar Martins Pereira / Edições Afrontamento, 2011
Gaspar Martins Pereira / Edições Afrontamento, 2011ÀS VEZES, dava jeito falar de livros que não foram escritos por amigos; editados ou produzidos por amigos. Poderia falar, não com mais liberdade, que é sempre a mesma, mas com mais crédito: ninguém pensaria que digo o que digo por amizade.
Este é um caso desses. O Gaspar Martins Pereira, o João Van Zeller e membros da família Symington estão entre os meus amigos.
Feita esta declaração de interesses, tenho a dizer-vos que este livro é maravilhoso. Por isso não só felicito o seu autor e os seus editores e produtores, como lhes agradeço. Prestaram um excelente e raro serviço à História, ao país e ao Douro.
Permitam-me distinguir, evidentemente, o historiador Gaspar Martins Pereira. O trabalho dele, a meio caminho entre a História social, a História económica a História local, com longos devaneios por outras narrativas, incluindo políticas e familiares, é raro no nosso país. Ele soube pôr em prática o melhor estilo e os melhores métodos da monografia local, com fortíssimas implicações regionais e nacionais, o que não é coisa fácil. Fez tudo isto dentro de uma tradição que ele continuou, enriqueceu e desenvolveu: a da investigação sobre a região do Douro, sobre as quintas do Douro, sobre o Vinho do Porto, sobre o comércio do vinho do Porto. Os mais importantes contributos contemporâneos para esta história devem-se a ele, às equipas que ele animou, ao trabalho que fez, às instituições que criou ou ajudou a criar, tanto no Porto, na Universidade, como na região, designadamente o Museu do Douro. E reparem que não é pouca coisa. Douro e Vinho do Porto representam o mais importante produto do comércio externo português durante talvez dois séculos. Sem eles, Portugal seria hoje diferente.
Neste livro, o Gaspar conseguiu um feito extraordinário: o de quase transformar uma quinta numa pessoa! Por isso eu digo, no breve prefácio, que ele fez biografia de quinta, o que não é comum. Vários exemplos conhecidos da mesma arte ficam-se frequentemente pelas longas listas e elencos de custos e preços, de produções e proprietários. Neste caso, há listas e elencos, pois claro, com minúcia e rigor, mas há sobretudo um protagonista, em volta do qual evoluem e giram personagens e famílias, dramas e alegrias, durante séculos.
A Quinta de Roriz é aqui tratada como se fosse uma jóia de família, o que aliás talvez seja mesmo. Há jóias que passam de mãos em mãos, de gerações em gerações, que por vezes voltam à mesma família, que depois surgem na posse de improváveis proprietários para novamente regressar a nomes conhecidos. Há jóias que provocaram divórcios e casamentos, nascimentos e dramas, alianças e combates. Há jóias que tornam famosos os que as possuem, há jóias às quais vale a pena dedicar atenção, meios e esforços. Nesse sentido, a Quinta de Roriz é uma jóia de família. Que se cruzou com várias famílias e assim vai continuar a acontecer. Até porque as próprias famílias acabaram por se cruzar entre si.
Deste livro, muitas seriam as referências obrigatórias, mesmo numa breve apresentação como esta. Mas ficar-me-ei por alguns pontos concretos. Este é um exemplo da continuidade de uma exploração (não poderei dizer empresa no sentido literal do termo) através dos séculos. Não há assim tantos casos conhecidos. Esta quinta beneficiou de diferentes factores que lhe asseguraram essa longa vida.
O primeiro, o seu equilíbrio, a ecologia, a localização e a paisagem. Os seus contornos, como exploração, ajudaram. A ninguém ocorre desmembrar ou fracturar a quinta.
O segundo, a sua excepcional beleza. Poder-se-á dizer que a estética não é um grande valor para a economia ou a produção. Mas a verdade é que tenho a certeza (e conheço testemunhos) que a sua beleza permitiu a criação de relações muito especiais, nomeadamente sentimentais, entre a Quinta e os seus proprietários.
O terceiro foi uma boa estrela da Quinta. Esta teve sorte. Quase todos os seus proprietários se esforçaram por manter o melhor e melhorar o possível. Um sábio jogo entre tradição e renovação, entre os costumes e a inovação, fez com que a Quinta, mau grado exigir um enorme esforço, nunca se transformasse num fardo. Quem a teve, gostava de a ter e respeitava-a. Eis uma atitude fundamental quando falamos de agricultura, de produção vinícola e de património construído e ecológico.
Em conclusão: o livro que temos diante de nós ilustra da melhor maneira a continuidade da exploração, da entidade “quinta”, graças à capacidade de inovação e de actualização. Sem esquecer o factor sentimental que tantas vezes liga os homens às coisas, às pedras e à terra. E ficámos a perceber melhor que há uma espécie de quinta diferente de todas as outras. Há quintas, há fazendas, há herdades, há montes... Depois, há as quintas de vinho. Que noutros países se podem mesmo chamar château ou domaine! A quinta de vinho é especial. Pela organização, pelo produto, pela continuidade da produção, pela mitologia e pelo sentimento. Este livro é um belo exemplo e uma capaz demonstração do que digo.
Outra referência deste livro diz respeito, como menciono no prefácio, às ligações entre portugueses e estrangeiros, entre portugueses e ingleses, entre a lavoura e o comércio, entre a produção e a exportação. Como se sabe (no Norte, sabe-se de certeza, no Sul e em Lisboa, não é seguro...) o Douro e o Vinho do Porto foram sempre motivo de lutas e preconceitos, de contrariedades e contradições. Sob muitos aspectos, nada de novo. Quotas de exportação, preços, fidelidade de contratos, margens de lucro e qualidade do produto foram e são frequentemente motivo de oposição. Aqui também. Com algumas particularidades. Por exemplo, os comerciantes e exportadores produziam pouco, visitavam pouco a região. Ou então o facto de uma cidade a 100 quilómetros de distância ter obtido o nome do produto, o entreposto, o armazém, o prazo de envelhecimento, a sede das empresas, o emprego e as mais valias! Estes são factos reais, não apenas preconceitos. Finalmente, a circunstância de a parte mais importante do comércio e da exportação estar entre mãos de estrangeiros, nomeadamente ingleses. Sobre estas diferenças, construíram-se mitos e querelas ainda hoje recordados e por vezes acordados. Diz-se que o vinho do Porto foi obra dos portugueses, dos durienses e dos lavradores; e que os ingleses apenas souberam aproveitar o que aqueles fizeram, inventaram e trataram. Mas também se diz que foram os ingleses os verdadeiros criadores do vinho do Porto e que os portugueses, pobres e atrasados, apenas souberam produzir o que lhes mandavam. Esta querela, como tantas outras, é inútil e estéril, mas anima as discussões no Douro e no Porto, nos cafés e na Feitoria! Na verdade, o vinho do Porto, o maior contributo material português para a história da humanidade, é resultado do encontro, da convergência, da oposição e da cooperação entre aqueles todos. Produtores, lavradores, comerciantes, exportadores, portugueses, ingleses e holandeses acrescentaram algo e inventaram alguma coisa para o fabrico deste vinho. E desta região.
A este propósito, uma última referência, talvez não explicitamente inscrita neste livro, mas que está implicitamente da primeira à última página: a força do lugar, a força do sítio, a obra da região. A construção e a vida desta quinta mostram bem que o vinho, sobretudo o de muita qualidade, não é simples fruto da Natureza. É obra do homem. Dos trabalhadores. Dos pedreiros. Dos enólogos. Dos lavradores. Dos proprietários. Dos comerciantes. Dos adegueiros. Dos agrónomos. Dos consumidores, enfim. Por isso, ao longo dos séculos, o vinho foi mudando e adaptando-se. Por isso, o vinho e as quintas foram mudando as terras e a região. Foram feitos muros e socalcos. Fizeram-se plantações. Transformou-se a paisagem. Mas, em troca, a paisagem mudou os homens, criou-lhes hábitos, modelou as suas vidas. Em grande parte, a história desta quinta, tão bem contada neste livro, revela, como se de uma câmara escura se tratasse, a história de uma região, de um vinho e de um povo. Os que fizeram este vinho acabaram por ser feitos por ele. E as quintas estão no centro deste processo de união entre o trabalho e a natureza, entre os homens e as terras.
Uma vez mais, felicito e agradeço ao Gaspar Martins Pereira, ao João Van Zeller, à família Symington e às Edições Afrontamento o que hoje nos ofereceram. Bem hajam.
E termino com duas notas pessoais. A primeira, para saudar os novos proprietários da Quinta de Roriz, a família Symington. Conheço-os do Douro e do Porto. Fui recebido em casa deles, explicaram-se o que faziam, mostraram-me várias das suas quintas. Tenho a certeza que a Quinta de Roriz fica em boas mãos. Uma vez, falando com Peter Symington, noutra quinta maravilhosa, a Quinta do Vesúvio, conversávamos sobre as relações entre portugueses e ingleses. A propósito de alguns preconceitos existentes nas relações entre os dois, nunca esquecerei o que ele me disse, a certo momento, já com um ligeiro sotaque do Porto: “Ó António, nós já somos da prata da casa!”.
A segunda é quase um arrependimento. Por falta minha, nunca visitei a Quinta de Roriz a convite do João Van Zeller. Várias vezes ele tomou essa iniciativa, mas eu, por motivos vários, nunca tive a oportunidade de aceder. Do que me arrependo. Mas a verdade é que, por duas vezes, visitei a Quinta sozinho, por meus próprios meios e iniciativa. Nos anos setenta e nos anos oitenta. Uma vez, andei por lá sozinho, a ver e fotografar. Outra, seguido por amável caseiro que me mostrou parte da vinha. Não entrei dentro de casa, que apenas conheço de fotografias. Mas tive ocasião de verificar o que se dizia: que a Quinta de Roriz tem qualquer coisa de doce e mágico. É realmente de uma beleza inexcedível! E, uma vez mais, não deve o que é apenas à natureza e ao local. Deve também muito, quase tudo, aos homens e as mulheres que a fizeram!
-
Lisboa, 26 de Outubro de 2011
Este é um caso desses. O Gaspar Martins Pereira, o João Van Zeller e membros da família Symington estão entre os meus amigos.
Feita esta declaração de interesses, tenho a dizer-vos que este livro é maravilhoso. Por isso não só felicito o seu autor e os seus editores e produtores, como lhes agradeço. Prestaram um excelente e raro serviço à História, ao país e ao Douro.
Permitam-me distinguir, evidentemente, o historiador Gaspar Martins Pereira. O trabalho dele, a meio caminho entre a História social, a História económica a História local, com longos devaneios por outras narrativas, incluindo políticas e familiares, é raro no nosso país. Ele soube pôr em prática o melhor estilo e os melhores métodos da monografia local, com fortíssimas implicações regionais e nacionais, o que não é coisa fácil. Fez tudo isto dentro de uma tradição que ele continuou, enriqueceu e desenvolveu: a da investigação sobre a região do Douro, sobre as quintas do Douro, sobre o Vinho do Porto, sobre o comércio do vinho do Porto. Os mais importantes contributos contemporâneos para esta história devem-se a ele, às equipas que ele animou, ao trabalho que fez, às instituições que criou ou ajudou a criar, tanto no Porto, na Universidade, como na região, designadamente o Museu do Douro. E reparem que não é pouca coisa. Douro e Vinho do Porto representam o mais importante produto do comércio externo português durante talvez dois séculos. Sem eles, Portugal seria hoje diferente.
Neste livro, o Gaspar conseguiu um feito extraordinário: o de quase transformar uma quinta numa pessoa! Por isso eu digo, no breve prefácio, que ele fez biografia de quinta, o que não é comum. Vários exemplos conhecidos da mesma arte ficam-se frequentemente pelas longas listas e elencos de custos e preços, de produções e proprietários. Neste caso, há listas e elencos, pois claro, com minúcia e rigor, mas há sobretudo um protagonista, em volta do qual evoluem e giram personagens e famílias, dramas e alegrias, durante séculos.
A Quinta de Roriz é aqui tratada como se fosse uma jóia de família, o que aliás talvez seja mesmo. Há jóias que passam de mãos em mãos, de gerações em gerações, que por vezes voltam à mesma família, que depois surgem na posse de improváveis proprietários para novamente regressar a nomes conhecidos. Há jóias que provocaram divórcios e casamentos, nascimentos e dramas, alianças e combates. Há jóias que tornam famosos os que as possuem, há jóias às quais vale a pena dedicar atenção, meios e esforços. Nesse sentido, a Quinta de Roriz é uma jóia de família. Que se cruzou com várias famílias e assim vai continuar a acontecer. Até porque as próprias famílias acabaram por se cruzar entre si.
Deste livro, muitas seriam as referências obrigatórias, mesmo numa breve apresentação como esta. Mas ficar-me-ei por alguns pontos concretos. Este é um exemplo da continuidade de uma exploração (não poderei dizer empresa no sentido literal do termo) através dos séculos. Não há assim tantos casos conhecidos. Esta quinta beneficiou de diferentes factores que lhe asseguraram essa longa vida.
O primeiro, o seu equilíbrio, a ecologia, a localização e a paisagem. Os seus contornos, como exploração, ajudaram. A ninguém ocorre desmembrar ou fracturar a quinta.
O segundo, a sua excepcional beleza. Poder-se-á dizer que a estética não é um grande valor para a economia ou a produção. Mas a verdade é que tenho a certeza (e conheço testemunhos) que a sua beleza permitiu a criação de relações muito especiais, nomeadamente sentimentais, entre a Quinta e os seus proprietários.
O terceiro foi uma boa estrela da Quinta. Esta teve sorte. Quase todos os seus proprietários se esforçaram por manter o melhor e melhorar o possível. Um sábio jogo entre tradição e renovação, entre os costumes e a inovação, fez com que a Quinta, mau grado exigir um enorme esforço, nunca se transformasse num fardo. Quem a teve, gostava de a ter e respeitava-a. Eis uma atitude fundamental quando falamos de agricultura, de produção vinícola e de património construído e ecológico.
Em conclusão: o livro que temos diante de nós ilustra da melhor maneira a continuidade da exploração, da entidade “quinta”, graças à capacidade de inovação e de actualização. Sem esquecer o factor sentimental que tantas vezes liga os homens às coisas, às pedras e à terra. E ficámos a perceber melhor que há uma espécie de quinta diferente de todas as outras. Há quintas, há fazendas, há herdades, há montes... Depois, há as quintas de vinho. Que noutros países se podem mesmo chamar château ou domaine! A quinta de vinho é especial. Pela organização, pelo produto, pela continuidade da produção, pela mitologia e pelo sentimento. Este livro é um belo exemplo e uma capaz demonstração do que digo.
Outra referência deste livro diz respeito, como menciono no prefácio, às ligações entre portugueses e estrangeiros, entre portugueses e ingleses, entre a lavoura e o comércio, entre a produção e a exportação. Como se sabe (no Norte, sabe-se de certeza, no Sul e em Lisboa, não é seguro...) o Douro e o Vinho do Porto foram sempre motivo de lutas e preconceitos, de contrariedades e contradições. Sob muitos aspectos, nada de novo. Quotas de exportação, preços, fidelidade de contratos, margens de lucro e qualidade do produto foram e são frequentemente motivo de oposição. Aqui também. Com algumas particularidades. Por exemplo, os comerciantes e exportadores produziam pouco, visitavam pouco a região. Ou então o facto de uma cidade a 100 quilómetros de distância ter obtido o nome do produto, o entreposto, o armazém, o prazo de envelhecimento, a sede das empresas, o emprego e as mais valias! Estes são factos reais, não apenas preconceitos. Finalmente, a circunstância de a parte mais importante do comércio e da exportação estar entre mãos de estrangeiros, nomeadamente ingleses. Sobre estas diferenças, construíram-se mitos e querelas ainda hoje recordados e por vezes acordados. Diz-se que o vinho do Porto foi obra dos portugueses, dos durienses e dos lavradores; e que os ingleses apenas souberam aproveitar o que aqueles fizeram, inventaram e trataram. Mas também se diz que foram os ingleses os verdadeiros criadores do vinho do Porto e que os portugueses, pobres e atrasados, apenas souberam produzir o que lhes mandavam. Esta querela, como tantas outras, é inútil e estéril, mas anima as discussões no Douro e no Porto, nos cafés e na Feitoria! Na verdade, o vinho do Porto, o maior contributo material português para a história da humanidade, é resultado do encontro, da convergência, da oposição e da cooperação entre aqueles todos. Produtores, lavradores, comerciantes, exportadores, portugueses, ingleses e holandeses acrescentaram algo e inventaram alguma coisa para o fabrico deste vinho. E desta região.
A este propósito, uma última referência, talvez não explicitamente inscrita neste livro, mas que está implicitamente da primeira à última página: a força do lugar, a força do sítio, a obra da região. A construção e a vida desta quinta mostram bem que o vinho, sobretudo o de muita qualidade, não é simples fruto da Natureza. É obra do homem. Dos trabalhadores. Dos pedreiros. Dos enólogos. Dos lavradores. Dos proprietários. Dos comerciantes. Dos adegueiros. Dos agrónomos. Dos consumidores, enfim. Por isso, ao longo dos séculos, o vinho foi mudando e adaptando-se. Por isso, o vinho e as quintas foram mudando as terras e a região. Foram feitos muros e socalcos. Fizeram-se plantações. Transformou-se a paisagem. Mas, em troca, a paisagem mudou os homens, criou-lhes hábitos, modelou as suas vidas. Em grande parte, a história desta quinta, tão bem contada neste livro, revela, como se de uma câmara escura se tratasse, a história de uma região, de um vinho e de um povo. Os que fizeram este vinho acabaram por ser feitos por ele. E as quintas estão no centro deste processo de união entre o trabalho e a natureza, entre os homens e as terras.
Uma vez mais, felicito e agradeço ao Gaspar Martins Pereira, ao João Van Zeller, à família Symington e às Edições Afrontamento o que hoje nos ofereceram. Bem hajam.
E termino com duas notas pessoais. A primeira, para saudar os novos proprietários da Quinta de Roriz, a família Symington. Conheço-os do Douro e do Porto. Fui recebido em casa deles, explicaram-se o que faziam, mostraram-me várias das suas quintas. Tenho a certeza que a Quinta de Roriz fica em boas mãos. Uma vez, falando com Peter Symington, noutra quinta maravilhosa, a Quinta do Vesúvio, conversávamos sobre as relações entre portugueses e ingleses. A propósito de alguns preconceitos existentes nas relações entre os dois, nunca esquecerei o que ele me disse, a certo momento, já com um ligeiro sotaque do Porto: “Ó António, nós já somos da prata da casa!”.
A segunda é quase um arrependimento. Por falta minha, nunca visitei a Quinta de Roriz a convite do João Van Zeller. Várias vezes ele tomou essa iniciativa, mas eu, por motivos vários, nunca tive a oportunidade de aceder. Do que me arrependo. Mas a verdade é que, por duas vezes, visitei a Quinta sozinho, por meus próprios meios e iniciativa. Nos anos setenta e nos anos oitenta. Uma vez, andei por lá sozinho, a ver e fotografar. Outra, seguido por amável caseiro que me mostrou parte da vinha. Não entrei dentro de casa, que apenas conheço de fotografias. Mas tive ocasião de verificar o que se dizia: que a Quinta de Roriz tem qualquer coisa de doce e mágico. É realmente de uma beleza inexcedível! E, uma vez mais, não deve o que é apenas à natureza e ao local. Deve também muito, quase tudo, aos homens e as mulheres que a fizeram!
-
Lisboa, 26 de Outubro de 2011
domingo, 23 de outubro de 2011
Luz - Califórnia, 1978
.
Não consigo recordar o local exacto desta fotografia. Pode ter sido num dos vários sítios de concertos ao ar livre que visitei: Seattle, San Francisco, Los Angeles... Já não eram novidade absoluta, Woodstock estava longe. Mas ainda eram impressionantes. E, apesar da erva, havia um ambiente de inocência... Dois pormenores dão nas vistas: a posição dos braços, em arco, à volta dos joelhos; e a quantidade inacreditável de blue jeans... Parece um uniforme!
domingo, 16 de outubro de 2011
Entrevista ao «Expresso» de 8 Out 11
Esta semana, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, presidida por António Barreto, apresentou um estudo, encomendado à Escola Nacional de Saúde Pública, sobre os custos da assistência médica em Portugal. O estudo foi realizado por uma equipa dirigida pelo Professor Carlos Costa. Convencido de que o sistema de saúde não sobrevive se for totalmente universal e gratuito, Barreto avisa que é preciso racionar os cuidados.
- Neste momento, sempre que se fala em Saúde fala-se em cortes. A obsessão com os custos não pode ser perigosa?
- Perigoso? Perigoso é não se falar. Nos últimos 20 ou 30 anos pensámos sempre na factura como uma coisa secundária. Estabeleceu-se o princípio de que quando alguém fala nos custos está a ser economicista. Detesto este termo, porque não olhar para os custos significa obrigar o povo a pagar. E agora damo-nos conta que o povo está esganado e de que os sistemas não aguentam.
- Como é que um povo que não é rico é tão displicente com os custos?
- A maior responsabilidade é das elites e dos dirigentes partidários. Infelizmente, a democracia portuguesa teve alguns maus resultados e um deles foi os políticos gastarem o que não é deles, mas do povo. E o povo gosta. Se vê um hospital ou uma escola melhores, gosta. Mas, de repente, apercebeu-se do preço.
- A factura está a ser muito pesada e não se vê agitação social. Reina a apatia?
- Numa situação de conflito social muito difícil, como a que estamos a viver, obviamente é possível que ocorram tumultos, mas não é necessário. Não gosto das pessoas que, como muitos dirigentes políticos, estão sistematicamente a anunciar que vai haver tumultos. Muitas vezes, a situação de dificuldade leva as pessoas não a vir para a rua fazer tumultos mas a tentar resolver a sua vida, e isso leva ao gasto de muita energia e concentração.
- O Serviço Nacional de Saúde (SNS), tal como o conhecemos, chegou ao fim?
- É minha convicção que a organização do sistema de saúde tem de evoluir. Não há no mundo sistema que aguente se for totalmente universal e gratuito. Para salvar o sistema é preciso introduzir fatores de compensação social. Não vejo razão para que a classe média e média alta se sirva do SNS 100% gratuito e universal.
- Devem pagar mais taxas?
- Há muitas maneiras. Olhe-se para Espanha, França ou Bélgica, onde as pessoas com mais rendimentos pagam mais ou pagam tudo porque os impostos não chegam para os custos do Estado social. Chegámos ao ponto de que não há recursos nacionais e nem se pode dizer aos ricos que paguem mais — isso não chega.
- Vamos ter de escolher quem se trata?
- Trata-se toda a gente. A ideia de que a partir de agora os pobres vão morrer e os ricos vão sobreviver faz parte da demagogia política e é detestável. Ninguém em Portugal fica fora dos cuidados de saúde públicos seja em que circunstância for, e a isto chama-se universalidade. Mas vamos ter de escolher a quem é que esses serviços são prestados de forma gratuita e a quem é que são prestados com taxas moderadoras, comparticipação de custos ou de preços. Como tem de haver também outras medidas. Porque não há utilização mais intensiva de genéricos? E da unidose? Porque há organizações poderosas que ganham mais assim.
- E os sucessivos governos têm cedido...
- Todos. Eu já tomei unidoses nos EUA, na Rússia soviética e na Inglaterra. Porque é que em Portugal não se pode fazer? É necessário que o poder político tenha mais firmeza sobre os lóbis e não tem tido há 30 anos. Temos de olhar para os custos. Por exemplo, um bloco cirúrgico deve trabalhar 14 horas por dia e a maioria em Portugal trabalha cinco ou seis porque os médicos estão em duplas funções. Há promiscuidade, não há controlo suficiente sobre o trabalho e há pouca dedicação exclusiva nos hospitais públicos.
- É preciso criar uma barreira entre o sector público e o privado?
- Portugal fica a ganhar se em poucos anos houver uma separação mais nítida.
- E o SNS terá condições para manter melhores profissionais? No privado os salários são muito superiores...
- Não é para todos. Não há tantos hospitais privados como isso. Se houvesse Saúde privada suficiente para contratar todos os médicos do público e lhes pagassem o dobro, os médicos iam todos para lá, mas os doentes não, e os privados ficavam sem clientes e não tinham negócio.
- Mas muitos especialistas dizem que o SNS está a ficar depauperado...
- É um mito urbano. É verdade que há casos de hospitais privados que contrataram dezenas de médicos do sistema público. Mas dado que o nosso número de médicos é superior à média dos outros países, é minha convicção absoluta que se os médicos trabalharem em exclusivo no privado ou no público não existirá problema. Esse rumor é defendido por quem quer manter a promiscuidade e ter dois empregos em full-time.
- Os cortes podem pôr em causa a qualidade e afectar, por exemplo, os excelentes índices de mortalidade infantil?
- A mortalidade infantil foi combatida de uma maneira muito eficiente porque se gastou um pouco mais para se obter esses resultados. Conseguiu-se com organização, cuidado humano com as pessoas e com uma delegação de funções da política na Ciência. Quem organizou isto foram os médicos, não os políticos.
- Mas não há sinais preocupantes, por exemplo, a nível dos transplantes, quando o ministro diz que, se calhar, não há riqueza para manter os números actuais?
- Porque é que damos de barato que para se fazerem transplantes tem de se pagar mais aos médicos? Porque é que os médicos não estão disponíveis para só receberem metade em incentivos?
- E acha que aceitam?
- Se não aceitarem, então porque se critica o ministro em vez de se criticarem os médicos? A opinião pública foi muito condicionada pelo interesse dos médicos.
- Há um lóbi forte dos médicos?
- Não sei se é dos médicos todos, mas de alguns, certamente. Agora vamos elevar o debate: alguém tem dúvidas de que o racionamento em Medicina é uma necessidade no mundo inteiro, não apenas em Portugal? É a mais séria discussão a ter sobre a Saúde.
- Como é que se diz a uma pessoa com cancro que não pode ter um medicamento que lhe prolonga a vida porque tem 80 anos e, economicamente, não é viável?
- Não sei. É um drama terrível. Mas não tenho dúvidas de que nada é ilimitado. No mundo inteiro discute-se o racionamento. Em Portugal não, porque o país tem esta mitologia terrível de que discutir os custos é economicismo. Em Inglaterra discute-se quem faz hemodiálise.
- Mas quem tem dinheiro fará sempre...
- Não me encostam à parede com esse dilema! Não é possível fazer tudo a toda a gente. Isto chama-se racionamento. Mas quando falo nisso, dizem-me que "vai matar os pobres". Isso é demagogia. Racionar não é dar aos ricos e tirar aos pobres, é dar a cada um o que precisa. E se não chega para todos, é preciso baixar um bocadinho a todos, com equidade. Portugal absorveu como ninguém no mundo princípio de que tudo é de graça.
- Certo é que a verdade sobre o peso da factura nunca foi dita aos portugueses.
- Estou convencido de que a demagogia prevalece há 35 anos. Todos os governos, uns mais do que outros, a aprofundaram e multiplicaram. Deram o que não tinham, fizeram o que não podiam...
- É a única forma de ganhar eleições? Os portugueses não querem a verdade?
- A democracia portuguesa ligou-se ao património, isto é legitima-se se der dinheiro. Como não pode dar cheques, paga em obras, em facilidades e em benefícios. E pagou demais. No que toca à Saúde, estou à espera de ver nos próximos meses um grande esforço de racionalização e corte do desperdício... Há hospitais que gastam litros de um produto e têm de comprar frasquinhos, em vez de comprarem um garrafão que seria muito mais barato. Despende-se muito mais há muita gente interessada nisso.
- E também há a mentalidade dos doentes, que acham que o médico só é bom se lhes receitar medicamentos.
- Um médico que só receita medicamentos para se ver livre do doente está a falhar. É a mesma coisa com os falsos atestados médicos. Há milhares passados todos os dias e não há processos. Perdem-se milhões de dias de trabalho.
- Como utente, o que é que não tolera?
- As filas de espera. Se uma pessoa tem uma doença e lhe é dito que tem de esperar um ano, isso é insuportável. É por isso que eu defendo a liberdade de escolha. Se o SNS não pode fornecer imediatamente o doente tem o direito, pelo mesmo custo, de ir ao privado. Mas se uso a expressão "liberdade de escolha", vem logo a brigada da revolução dizer que isso significa o capitalismo selvagem dos Mellos e dos Espírito Santos, ultraliberal, que quer matar os pobres e dar vida aos ricos. É insuportável.
- O que espera do próximo OE?
- Estou à espera que esse Orçamento dê lugar a um acordo entre os dois partidos do Governo e o PS. É uma oportunidade imperdível para que haja, com matéria e não em abstrato, um aprofundamento do acordo entre os três partidos para isto aguentar. Porque isto está muito difícil e ainda estará mais.
- Não isenta de culpas nenhum dos dirigentes políticos dos últimos anos. A política atrai-o?
- Há um lado de crispação na política que é horrível. Em Portugal, para um partido político ser forte e enérgico, significa berrar no Parlamento. Se os berros são transmitidos nos noticiários da televisão, o senhor deputado e o partido ficam contentes. Metade das vezes são coisas naturalíssimas que se podem dizer sem gritar. Vi a discussão no congresso norte-americano sobre o banco Lehman e o debate no parlamento inglês relativamente à nacionalização de parte da banca e os deputados conversavam, tinham ideias diferentes e ficavam horas a argumentar até chegarem a um acordo. Aqui é muito difícil. E, deste modo, não há debate político possível. Lamento muito que seja assim.
- Há um burburinho em torno do seu nome para Presidente da República. Não sente esse apelo?
- Zero. Estou muito bem como estou. Presidente só quero ser desta Fundação. Não regresso à vida política. Já fiz a vida política que tinha a fazer e a que sabia, já não sei fazer mais. Gosto de contribuir, de estar interessado no que se passa. Informar, estudar, debater, discutir, é a minha maneira de fazer política. Não lhe vou dizer aquelas coisas que muitos gostam de dizer: nunca se pode dizer não, nunca se sabe o dia de amanhã, amanhã só Deus sabe, etc. Eu digo claramente: não.
- Neste momento, sempre que se fala em Saúde fala-se em cortes. A obsessão com os custos não pode ser perigosa?
- Perigoso? Perigoso é não se falar. Nos últimos 20 ou 30 anos pensámos sempre na factura como uma coisa secundária. Estabeleceu-se o princípio de que quando alguém fala nos custos está a ser economicista. Detesto este termo, porque não olhar para os custos significa obrigar o povo a pagar. E agora damo-nos conta que o povo está esganado e de que os sistemas não aguentam.
- Como é que um povo que não é rico é tão displicente com os custos?
- A maior responsabilidade é das elites e dos dirigentes partidários. Infelizmente, a democracia portuguesa teve alguns maus resultados e um deles foi os políticos gastarem o que não é deles, mas do povo. E o povo gosta. Se vê um hospital ou uma escola melhores, gosta. Mas, de repente, apercebeu-se do preço.
- A factura está a ser muito pesada e não se vê agitação social. Reina a apatia?
- Numa situação de conflito social muito difícil, como a que estamos a viver, obviamente é possível que ocorram tumultos, mas não é necessário. Não gosto das pessoas que, como muitos dirigentes políticos, estão sistematicamente a anunciar que vai haver tumultos. Muitas vezes, a situação de dificuldade leva as pessoas não a vir para a rua fazer tumultos mas a tentar resolver a sua vida, e isso leva ao gasto de muita energia e concentração.
- O Serviço Nacional de Saúde (SNS), tal como o conhecemos, chegou ao fim?
- É minha convicção que a organização do sistema de saúde tem de evoluir. Não há no mundo sistema que aguente se for totalmente universal e gratuito. Para salvar o sistema é preciso introduzir fatores de compensação social. Não vejo razão para que a classe média e média alta se sirva do SNS 100% gratuito e universal.
- Devem pagar mais taxas?
- Há muitas maneiras. Olhe-se para Espanha, França ou Bélgica, onde as pessoas com mais rendimentos pagam mais ou pagam tudo porque os impostos não chegam para os custos do Estado social. Chegámos ao ponto de que não há recursos nacionais e nem se pode dizer aos ricos que paguem mais — isso não chega.
- Vamos ter de escolher quem se trata?
- Trata-se toda a gente. A ideia de que a partir de agora os pobres vão morrer e os ricos vão sobreviver faz parte da demagogia política e é detestável. Ninguém em Portugal fica fora dos cuidados de saúde públicos seja em que circunstância for, e a isto chama-se universalidade. Mas vamos ter de escolher a quem é que esses serviços são prestados de forma gratuita e a quem é que são prestados com taxas moderadoras, comparticipação de custos ou de preços. Como tem de haver também outras medidas. Porque não há utilização mais intensiva de genéricos? E da unidose? Porque há organizações poderosas que ganham mais assim.
- E os sucessivos governos têm cedido...
- Todos. Eu já tomei unidoses nos EUA, na Rússia soviética e na Inglaterra. Porque é que em Portugal não se pode fazer? É necessário que o poder político tenha mais firmeza sobre os lóbis e não tem tido há 30 anos. Temos de olhar para os custos. Por exemplo, um bloco cirúrgico deve trabalhar 14 horas por dia e a maioria em Portugal trabalha cinco ou seis porque os médicos estão em duplas funções. Há promiscuidade, não há controlo suficiente sobre o trabalho e há pouca dedicação exclusiva nos hospitais públicos.
- É preciso criar uma barreira entre o sector público e o privado?
- Portugal fica a ganhar se em poucos anos houver uma separação mais nítida.
- E o SNS terá condições para manter melhores profissionais? No privado os salários são muito superiores...
- Não é para todos. Não há tantos hospitais privados como isso. Se houvesse Saúde privada suficiente para contratar todos os médicos do público e lhes pagassem o dobro, os médicos iam todos para lá, mas os doentes não, e os privados ficavam sem clientes e não tinham negócio.
- Mas muitos especialistas dizem que o SNS está a ficar depauperado...
- É um mito urbano. É verdade que há casos de hospitais privados que contrataram dezenas de médicos do sistema público. Mas dado que o nosso número de médicos é superior à média dos outros países, é minha convicção absoluta que se os médicos trabalharem em exclusivo no privado ou no público não existirá problema. Esse rumor é defendido por quem quer manter a promiscuidade e ter dois empregos em full-time.
- Os cortes podem pôr em causa a qualidade e afectar, por exemplo, os excelentes índices de mortalidade infantil?
- A mortalidade infantil foi combatida de uma maneira muito eficiente porque se gastou um pouco mais para se obter esses resultados. Conseguiu-se com organização, cuidado humano com as pessoas e com uma delegação de funções da política na Ciência. Quem organizou isto foram os médicos, não os políticos.
- Mas não há sinais preocupantes, por exemplo, a nível dos transplantes, quando o ministro diz que, se calhar, não há riqueza para manter os números actuais?
- Porque é que damos de barato que para se fazerem transplantes tem de se pagar mais aos médicos? Porque é que os médicos não estão disponíveis para só receberem metade em incentivos?
- E acha que aceitam?
- Se não aceitarem, então porque se critica o ministro em vez de se criticarem os médicos? A opinião pública foi muito condicionada pelo interesse dos médicos.
- Há um lóbi forte dos médicos?
- Não sei se é dos médicos todos, mas de alguns, certamente. Agora vamos elevar o debate: alguém tem dúvidas de que o racionamento em Medicina é uma necessidade no mundo inteiro, não apenas em Portugal? É a mais séria discussão a ter sobre a Saúde.
- Como é que se diz a uma pessoa com cancro que não pode ter um medicamento que lhe prolonga a vida porque tem 80 anos e, economicamente, não é viável?
- Não sei. É um drama terrível. Mas não tenho dúvidas de que nada é ilimitado. No mundo inteiro discute-se o racionamento. Em Portugal não, porque o país tem esta mitologia terrível de que discutir os custos é economicismo. Em Inglaterra discute-se quem faz hemodiálise.
- Mas quem tem dinheiro fará sempre...
- Não me encostam à parede com esse dilema! Não é possível fazer tudo a toda a gente. Isto chama-se racionamento. Mas quando falo nisso, dizem-me que "vai matar os pobres". Isso é demagogia. Racionar não é dar aos ricos e tirar aos pobres, é dar a cada um o que precisa. E se não chega para todos, é preciso baixar um bocadinho a todos, com equidade. Portugal absorveu como ninguém no mundo princípio de que tudo é de graça.
- Certo é que a verdade sobre o peso da factura nunca foi dita aos portugueses.
- Estou convencido de que a demagogia prevalece há 35 anos. Todos os governos, uns mais do que outros, a aprofundaram e multiplicaram. Deram o que não tinham, fizeram o que não podiam...
- É a única forma de ganhar eleições? Os portugueses não querem a verdade?
- A democracia portuguesa ligou-se ao património, isto é legitima-se se der dinheiro. Como não pode dar cheques, paga em obras, em facilidades e em benefícios. E pagou demais. No que toca à Saúde, estou à espera de ver nos próximos meses um grande esforço de racionalização e corte do desperdício... Há hospitais que gastam litros de um produto e têm de comprar frasquinhos, em vez de comprarem um garrafão que seria muito mais barato. Despende-se muito mais há muita gente interessada nisso.
- E também há a mentalidade dos doentes, que acham que o médico só é bom se lhes receitar medicamentos.
- Um médico que só receita medicamentos para se ver livre do doente está a falhar. É a mesma coisa com os falsos atestados médicos. Há milhares passados todos os dias e não há processos. Perdem-se milhões de dias de trabalho.
- Como utente, o que é que não tolera?
- As filas de espera. Se uma pessoa tem uma doença e lhe é dito que tem de esperar um ano, isso é insuportável. É por isso que eu defendo a liberdade de escolha. Se o SNS não pode fornecer imediatamente o doente tem o direito, pelo mesmo custo, de ir ao privado. Mas se uso a expressão "liberdade de escolha", vem logo a brigada da revolução dizer que isso significa o capitalismo selvagem dos Mellos e dos Espírito Santos, ultraliberal, que quer matar os pobres e dar vida aos ricos. É insuportável.
*
António Barreto tem um longo historial na política portuguesa. Foi militante do PCP, esteve no PS, partido do qual se afastou há muito. Foi deputado, ministro da Agricultura no I Governo Constitucional, apoiou a AD de Sá Carneiro, a candidatura presidencial de Soares. É um independente, no verdadeiro sentido da palavra. E com o estatuto que garantiu na sociedade portuguesa, o seu nome é falado como possível candidato presidencial em 2016 (Marcelo Rebelo de Sousa sugeriu o nome do sociólogo em entrevista ao "i" há duas semanas), numa disputa que se prevê aberta e renhida. Barreto rejeita frontalmente a ideia. E também fala sobre a discussão do Orçamento do Estado para 2012, que aí vem, dizendo esperar "um acordo entre os dois partidos do Governo e o PS". - O que espera do próximo OE?
- Estou à espera que esse Orçamento dê lugar a um acordo entre os dois partidos do Governo e o PS. É uma oportunidade imperdível para que haja, com matéria e não em abstrato, um aprofundamento do acordo entre os três partidos para isto aguentar. Porque isto está muito difícil e ainda estará mais.
- Não isenta de culpas nenhum dos dirigentes políticos dos últimos anos. A política atrai-o?
- Há um lado de crispação na política que é horrível. Em Portugal, para um partido político ser forte e enérgico, significa berrar no Parlamento. Se os berros são transmitidos nos noticiários da televisão, o senhor deputado e o partido ficam contentes. Metade das vezes são coisas naturalíssimas que se podem dizer sem gritar. Vi a discussão no congresso norte-americano sobre o banco Lehman e o debate no parlamento inglês relativamente à nacionalização de parte da banca e os deputados conversavam, tinham ideias diferentes e ficavam horas a argumentar até chegarem a um acordo. Aqui é muito difícil. E, deste modo, não há debate político possível. Lamento muito que seja assim.
- Há um burburinho em torno do seu nome para Presidente da República. Não sente esse apelo?
- Zero. Estou muito bem como estou. Presidente só quero ser desta Fundação. Não regresso à vida política. Já fiz a vida política que tinha a fazer e a que sabia, já não sei fazer mais. Gosto de contribuir, de estar interessado no que se passa. Informar, estudar, debater, discutir, é a minha maneira de fazer política. Não lhe vou dizer aquelas coisas que muitos gostam de dizer: nunca se pode dizer não, nunca se sabe o dia de amanhã, amanhã só Deus sabe, etc. Eu digo claramente: não.
terça-feira, 11 de outubro de 2011
Portugal, que futuro? (*)
.
(*) - Academia das Ciências de Lisboa
Instituto de Estudos Académicos para Seniores
Lisboa, 10 de Outubro de 2011
O TEMA que me foi oferecido, “Portugal, que futuro?”, constitui uma pergunta recorrente desde há uns anos. Ou décadas.
Advirto desde já que creio não poder responder a tal pergunta. Ou então poderia, mas só com fé ou medo, dois obstáculos ao pensamento. Não há pessoa, grupo, partido ou classe capaz de delinear o nosso futuro. Nem sequer afirmar, simplesmente, que, como nação, país e Estado independente, temos ou não um futuro. E não é saudável esperar que alguém, indivíduo ou grupo, se venha a encarregar de estudar, prever e nos oferecer um futuro.
Porquê assim? Por que não é possível prever o nosso futuro? Porque o futuro depende da liberdade de cada um e da liberdade dos povos. As pequenas decisões individuais acarretam as grandes. As decisões de quem dirige implicam depois as decisões de cada um de nós, assim como as dos outros povos. O futuro é uma construção complexa e imprevisível. Além de que o acaso e o imprevisto também fazem das suas.
Nunca esquecerei o poema que me foi enviado por mão amiga, há quase quarenta anos, quando iniciei um período de responsabilidades governamentais:
-------------Verdade, amor, razão, merecimento,
-------------Qualquer alma farão segura e forte.
-------------Porém, fortuna, caso, tempo e sorte,
-------------Têm do confuso mundo o regimento.
Estas quatro linhas, do nosso maior, sugeriram-me de imediato a necessária humildade perante a tarefa e o serviço público.
Além de tudo isso, temos a circunstância do mundo contemporâneo. Há muito que sabemos que “isto anda tudo ligado” e que conhecemos a fábula da borboleta chinesa que provoca a tempestade no Atlântico. Agora, sabemos, melhor do que antes, que não apenas os ventos e os céus, os mares e as correntes, mas também os homens e as mulheres, os Estados e as empresas, estão todos ligados. Como nunca tínhamos estado.
Traçar o nosso futuro ou desenhar os contornos da sociedade que queremos é exercício intelectualmente interessante, mas inútil. O futuro já não nos pertence, a nós, pequeno povo da Europa ocidental.
Apenas podemos prever vários caminhos possíveis. Podemos preparar-nos para todas as eventualidades, como quem segue viagem sem rumo certo e preciso. Todavia, esta minha crença não me faz desistir de perscrutar os tempos vindouros. Pelo contrário. É essa incerteza que me faz insistir, tentar prever todas as hipóteses. É também o que deveria inspirar as autoridades políticas, os que decidem a economia e as elites intelectuais. Sem a ansiedade de prever o imprevisível, nem de planear por intermédio de construções artificiais, podemos examinar o presente, procurando tendências e buscando modos de inflectir e influenciar. Podemos também, como se faz modernamente e deveria fazer entre nós, debater melhor e de modo mais consequente, sobretudo mais colectivamente, o conceito estratégico que define balizas.
Mas importa evitar dois riscos. “Deixar correr”, como se tem feito nos últimos anos, é falta grave cuja enorme factura se acabará sempre por pagar. Como fazemos hoje. E “Prever o futuro”, como alguns acreditarão ser possível, é ilusão infantil.
A globalização retirou-nos certezas. A integração europeia diminuiu-nos a soberania. O endividamento erodiu-nos a independência. O melhor que podemos e devemos fazer é preparar-nos, cuidar das nossas forças, reservarmos capacidades e fazer todo o esforço para que sejamos ouvidos. Mais, para que seja possível participar nas decisões dos nossos vizinhos e parceiros. A integração europeia trazia essa promessa, esse horizonte. Foi assim que iniciámos a caminhada europeia. Cada vez mais, no entanto, esse dispositivo colectivo e solidário está posto em causa. O fenómeno não surpreende aqueles que nunca acreditaram excessivamente num federalismo uniformizador. Mas a verdade é que as regras mudaram. Mais do que as regras, foram também os costumes institucionais e práticos que se alteraram. Avança gradualmente uma estrutura europeia verticalizada e centrípeta, contrária à inspiração inicial. Esta é mais uma razão que nos obriga a pensar e debater.
Não se trata de desenhar ou prever o futuro, empreendimentos impossíveis e destinados ao insucesso mais flagrante. Antes importa, isso sim, não hipotecar o futuro. Não fechar as portas a caminhos possíveis. E prepararmo-nos para diversas jornadas. As nossas decisões unilaterais deixaram parcialmente de ter valor real, de influenciar ou marcar o nosso futuro. E se algumas decisões solitárias nos sobram, como a de seguir um caminho isolado e introvertido, podemos ter a certeza de que a pobreza e a insegurança nos esperam.
Não se veja nestas linhas nostalgia dos tempos de isolamento ou de plena soberania nacional. A segunda metade do século XX mostrou com evidência que o exterior foi fundamental para o nosso progresso interior. Há mais de cinquenta anos que ligámos de forma indelével o nosso destino ao exterior. Com a NATO e a EFTA primeiro, a Comunidade Europeia depois, o mundo envolvente, Europa e o Atlântico, o mundo global, enfim. O exterior, as sociedades abertas e o mercado internacional foram certamente as principais fontes de alguma prosperidade que conhecemos desde os anos sessenta. Assim como das liberdades individuais e públicas, cuja inspiração primordial se vai buscar mais na inspiração e nas experiências dos povos vizinhos do que numa irresistível pulsão interior.
Mas foi também este mundo envolvente que nos trouxe as mais duras realidades do tempo presente. A produção insuficiente, a competitividade reduzida e a mediocridade de recursos tornaram a nossa sociedade mais débil e a nossa economia frágeis. O persistente desequilíbrio das nossas trocas com o exterior corrompeu as hipóteses de desenvolvimento e prosperidade.
Acontece que foi também esse mesmo mundo aberto que tornou ilimitadas as nossas expectativas. Aspiramos, porque o conhecemos, ao que de melhor se faz e tem neste mundo, sobretudo na Europa e na América, com quem nos comparamos obsessivamente. Mas não temos organização nem produção à altura das nossas aspirações.
E por que razão esta interrogação sobre o nosso futuro é tão actual, tão frequente? Será apenas mais uma manifestação desta incessante procura do “nós” colectivo? Creio que não. Vivemos tempos difíceis de desorientação. Depois de trinta anos de melhoramento constante e até de alguma prosperidade, verificamos que o que conseguimos está sob ameaça e que o que está ganho pode ser perdido. Temos agora a certeza de que já perdemos soberania e independência. Entregues às mãos dos credores, os que devem têm seguramente tudo a temer.
Parecia que já tínhamos ultrapassado as dores e as dificuldades de uma metamorfose que nos trouxe da ditadura à liberdade, do Atlântico e de África à Europa. Chegou a parecer que as liberdades e a democracia estavam seguramente ancoradas. Foi possível pensar que uma sociedade aberta e uma economia próspera tinham raízes bem assentes e persistentes. Durante uns breves anos, do final do século XX aos primeiros anos do século XXI, registámos mesmo, pela primeira vez na história, uma balança demográfica positiva: os estrangeiros que nos procuravam para viver e trabalhar eram em número superior ao dos Portugueses que, como era tradição, deviam procurar fazer a sua vida alhures.
Foi um momento passageiro. As saídas de Portugueses para o estrangeiro retomaram como antes, quase a fazer lembrar os anos sessenta de grande hemorragia. As condições económicas e sociais deterioraram-se. Eis que a dívida externa, o défice público, a intervenção internacional e a iminente falência, aparentemente evitada, nos impõem a questão: qual é, qual pode ser o nosso futuro?
É, pois, natural que a pergunta regresse. Ela denota incerteza e insegurança. Mas também a consciência da nossa dimensão e das nossas insuficiências. No entanto, qualquer que seja a nossa dúvida, legítima, não é possível esquecer o que fizemos recentemente. Realizámos, num punhado de anos, obra que nos honra.
Temos razões para estar orgulhosos. Fizemos em trinta ou quarenta anos o que outros demoraram cinco ou seis décadas. Depois de ter passado à beira de fracturas dolorosas e potencialmente trágicas, criámos os fundamentos de um Estado de Direito e de um sistema democrático. Alargámos a todos um Estado providência universal, com relevo para um Serviço Nacional de Saúde, que, mau grado defeitos e ineficiências, cumpre o essencial dos seus deveres e dos seus objectivos. Iniciámos a obra imprescindível de construção de uma sociedade plural onde vários deuses e diversas culturas podem conviver.
Mas também temos motivos para estar apreensivos. Falhámos na democracia participativa e no debate público, baseados numa informação acessível e honesta. Não conseguimos estabelecer uma Justiça em que se possa confiar como última instância de tutela e garantia dos nossos direitos e deveres. Não soubemos valorizar a ideia de responsabilidade pública através da qual uma espécie de frugalidade útil se imponha à voracidade ostensiva do dispêndio inútil. Não melhorámos significativamente os padrões de equidade, nem reduzimos as fontes de desigualdade excessiva. Não vencemos a fraude nem a corrupção, factores de iniquidade e inimigos da decência humana. Pior que tudo, perdemos de vista a continuidade e o futuro, habituámo-nos a viver com se ninguém viesse depois, como se não tivéssemos filhos e netos.
Podemos dizer que somos todos responsáveis. É esta, geralmente, uma afirmação desnecessária e inútil. E enganadora, pois impede-nos de saber porquê e como se chegou a uma qualquer situação. É uma frase que serve mais de desculpa do que de compreensão. Mas aceito que os nossos contemporâneos tenham todos, ou quase, uma quota-parte de responsabilidade, pois elegeram, designaram, confirmaram ou deixaram agir. Mas não esqueçamos que esta responsabilização universal pode conter a dolorosa ironia de culpar também, pelos excessos e pelo consumismo, muitos que nunca, durante estas décadas, deixaram realmente a pobreza e a carência.
Para além disso, que é evidente e não muito esclarecedor, houve evidentemente responsabilidades das autoridades, dos dirigentes, das elites políticas e económicas. A começar pelo uso excessivo de demagogia durante as últimas décadas. Parece ter-se seguido à letra a lição de Álvaro Pais, segundo o cronista. Prometeu-se o que não se podia dar. Deu-se o que se não tinha. E foi-se ainda mais longe. Distribuiu-se o que se não tinha produzido. Adiou-se o pagamento para as gerações futuras. Fez-se o inútil e o dispensável. Frequentemente, ao necessário, preferiu-se o vistoso.
Na política, substituiu-se a ideia de serviço pela da competição. O optimismo ilimitado dos vencedores impediu-os de ver os problemas criados ou não resolvidos. O pessimismo crónico dos vencidos impediu-os de encontrar as soluções. A este propósito, convém comparar os efeitos do pessimismo e do optimismo. Em certo sentido se pode afirmar que estamos diante dos resultados de um optimismo em excesso. Sob o seu reinado, tudo pareceu possível. Fizeram-se os piores erros da nossa história recente. Tomaram-se decisões que hipotecaram o futuro. Desfrutou-se uma tranquilidade que mais pareceu irresponsabilidade. Procurou-se uma facilidade que mais foi cumplicidade. Durante anos, os alertas e as denúncias de dificuldades de que muitos se fizeram eco foram recebidos como desistência crónica, como pessimismo doentio. Tinham razão os pessimistas, pois a lucidez nunca casou com o optimismo.
Temos, evidentemente, um futuro. Mas não sabemos qual é. Necessário é traçar os horizontes, antever as possibilidades... São as nossas escolhas de hoje que farão, sem que o saibamos em pormenor, o futuro. Uma vez mais, esta dúvida é razão forte para discutir e debater em permanência as hipóteses de futuro. Hoje, reinam a incerteza, talvez a insegurança e provavelmente o receio. Mais uma razão para discutir o futuro.
Uma nação informada e um povo habituado a debater e discutir são instrumentos de combate à incerteza. E são meios superiores para lutar contra as dificuldades. Hoje, após o resgate internacional das finanças portuguesas, a falta de informação e a ignorância sobre tantos aspectos da gestão pública recente enfraquecem a capacidade de resistência da população. Quase impedem as autoridades de pedir cooperação e compreensão para os esforços e os sacrifícios que se seguem.
A verdade é que se escondeu informação e se enganou a opinião pública. A acreditar nos dirigentes nacionais, vivíamos, há quatro ou cinco anos, um confortável desafogo. Era então possível fazer planos e criar projectos de grande dimensão e enorme ambição. Em pouco tempo, num punhado de anos, passámos a uma situação de iminente falência e de quase bancarrota imediata. Ainda hoje não sabemos as causas e o processo. Ainda hoje não conhecemos a origem exacta dessa terrível aceleração dos défices e das dívidas.
As causas externas são em parte responsáveis. Com certeza. Como em todos os países do mundo. Ou quase. Mas a maior parte dos países ocidentais não se encontra na mesma situação que Portugal. Algo se passou mais, em nossa casa. Ou fizemos menos, ou fizemos pior. Ou não nos preparámos. Ou não cuidámos da nossa fragilidade. E o facto de saber que dois ou três outros países vivem dificuldades semelhantes, mais ou menos graves, não é suficiente para nos desculpar. Há países e governos, a começar pelo nosso, que foram imprevidentes, complacentes e irresponsáveis. Pode ser grande a origem externa das nossas dificuldades. Mas a verdade é que é isso mesmo o que se pede aos governantes: que prevejam dificuldades, que previnam problemas e que protejam os seus povos durante as tempestades. Tivemos exactamente o contrário: as autoridades acrescentaram às dificuldades, não só pelas suas decisões, como também pelo seu comportamento teimoso e abrasivo.
Repito. Temos evidentemente um futuro. Mas não sabemos qual. Esse futuro depende cada vez mais de outros, dos vizinhos, do grupo do Euro, da União Europeia, dos Estados Unidos e até do resto do mundo. Mas não esqueçamos a lição de um académico americano, Jared Diamond, que alertou para a hipótese de povos e países decidirem, sem saber, extinguir-se. Vários povos, ao longo dos séculos, desapareceram dos seus territórios ou as suas nações dissolveram-se após longas fases de declínio e decadência em resultado da sua própria obra e das suas decisões. Os seus gestos e o seu comportamento eram deliberados, mas as suas fatais consequências eram desconhecidas.
É minha convicção que esse futuro, mesmo muito difícil, será europeu. Mas também creio que a Europa será, dentro de poucos anos, diferente da que conhecemos hoje. Ou muito mais federal, ou mais fragmentada. Gostaria que esse futuro fosse com o Euro, pois de outro modo o poder de compra do nosso povo sofreria um enorme desbaste.
Gostaria igualmente que esse futuro não se limitasse a uma integração no mais vasto conjunto europeu, com desaparição gradual das culturas e das identidades. Estas não têm, para mim, valor absoluto, em si próprias. Valem pelo que significam de mais humanidade e mais dignidade. Estou convencido mesmo que valem também como factor de liberdade dos cidadãos, mais próximos assim das instâncias cujas decisões implicam o seu destino e as suas vidas.
Reconheço não estar a desenhar contornos do futuro, nem sequer garantias, mas tão só a fazer breve lista de desejos. É talvez essa uma maneira de participar no debate nacional que se afigura urgente.
Tão urgente quanto a crise actual, devastadora de energias e de esperanças, tem revelado exigências. Para o nosso futuro, impõe-se, por exemplo, criar mais capacidade soberana e menor dependência dos credores. Como creio que importa ter um olhar diferente e mais ousado para os recursos naturais, a terra, as águas, a floresta e o mar. Já sabemos também que, sem investimento, nunca será possível diminuir a dívida ou aumentar a produção. Tudo deveria ser feito para que o investimento se sinta atraído, confiante e seguro.
Creio ainda que desta crise de incerteza resulta algo mais. A convicção de que os Portugueses não podem ou não devem ser chamados apenas para receber e sofrer as más notícias. Para matérias tão importantes como a sua Constituição e a integração europeia, nunca foram solicitados a debater e participar, menos ainda a aprovar. As escolhas actuais e a dureza do regime económico e social em que vamos viver são tais que é tempo de se fazer justiça ao povo. Informá-lo de modo completo e honesto, chamá-lo a discutir e dar a sua opinião seria uma excelente maneira de começar a olhar para o futuro.
-Advirto desde já que creio não poder responder a tal pergunta. Ou então poderia, mas só com fé ou medo, dois obstáculos ao pensamento. Não há pessoa, grupo, partido ou classe capaz de delinear o nosso futuro. Nem sequer afirmar, simplesmente, que, como nação, país e Estado independente, temos ou não um futuro. E não é saudável esperar que alguém, indivíduo ou grupo, se venha a encarregar de estudar, prever e nos oferecer um futuro.
Porquê assim? Por que não é possível prever o nosso futuro? Porque o futuro depende da liberdade de cada um e da liberdade dos povos. As pequenas decisões individuais acarretam as grandes. As decisões de quem dirige implicam depois as decisões de cada um de nós, assim como as dos outros povos. O futuro é uma construção complexa e imprevisível. Além de que o acaso e o imprevisto também fazem das suas.
Nunca esquecerei o poema que me foi enviado por mão amiga, há quase quarenta anos, quando iniciei um período de responsabilidades governamentais:
-------------Verdade, amor, razão, merecimento,
-------------Qualquer alma farão segura e forte.
-------------Porém, fortuna, caso, tempo e sorte,
-------------Têm do confuso mundo o regimento.
Estas quatro linhas, do nosso maior, sugeriram-me de imediato a necessária humildade perante a tarefa e o serviço público.
Além de tudo isso, temos a circunstância do mundo contemporâneo. Há muito que sabemos que “isto anda tudo ligado” e que conhecemos a fábula da borboleta chinesa que provoca a tempestade no Atlântico. Agora, sabemos, melhor do que antes, que não apenas os ventos e os céus, os mares e as correntes, mas também os homens e as mulheres, os Estados e as empresas, estão todos ligados. Como nunca tínhamos estado.
Traçar o nosso futuro ou desenhar os contornos da sociedade que queremos é exercício intelectualmente interessante, mas inútil. O futuro já não nos pertence, a nós, pequeno povo da Europa ocidental.
Apenas podemos prever vários caminhos possíveis. Podemos preparar-nos para todas as eventualidades, como quem segue viagem sem rumo certo e preciso. Todavia, esta minha crença não me faz desistir de perscrutar os tempos vindouros. Pelo contrário. É essa incerteza que me faz insistir, tentar prever todas as hipóteses. É também o que deveria inspirar as autoridades políticas, os que decidem a economia e as elites intelectuais. Sem a ansiedade de prever o imprevisível, nem de planear por intermédio de construções artificiais, podemos examinar o presente, procurando tendências e buscando modos de inflectir e influenciar. Podemos também, como se faz modernamente e deveria fazer entre nós, debater melhor e de modo mais consequente, sobretudo mais colectivamente, o conceito estratégico que define balizas.
Mas importa evitar dois riscos. “Deixar correr”, como se tem feito nos últimos anos, é falta grave cuja enorme factura se acabará sempre por pagar. Como fazemos hoje. E “Prever o futuro”, como alguns acreditarão ser possível, é ilusão infantil.
A globalização retirou-nos certezas. A integração europeia diminuiu-nos a soberania. O endividamento erodiu-nos a independência. O melhor que podemos e devemos fazer é preparar-nos, cuidar das nossas forças, reservarmos capacidades e fazer todo o esforço para que sejamos ouvidos. Mais, para que seja possível participar nas decisões dos nossos vizinhos e parceiros. A integração europeia trazia essa promessa, esse horizonte. Foi assim que iniciámos a caminhada europeia. Cada vez mais, no entanto, esse dispositivo colectivo e solidário está posto em causa. O fenómeno não surpreende aqueles que nunca acreditaram excessivamente num federalismo uniformizador. Mas a verdade é que as regras mudaram. Mais do que as regras, foram também os costumes institucionais e práticos que se alteraram. Avança gradualmente uma estrutura europeia verticalizada e centrípeta, contrária à inspiração inicial. Esta é mais uma razão que nos obriga a pensar e debater.
Não se trata de desenhar ou prever o futuro, empreendimentos impossíveis e destinados ao insucesso mais flagrante. Antes importa, isso sim, não hipotecar o futuro. Não fechar as portas a caminhos possíveis. E prepararmo-nos para diversas jornadas. As nossas decisões unilaterais deixaram parcialmente de ter valor real, de influenciar ou marcar o nosso futuro. E se algumas decisões solitárias nos sobram, como a de seguir um caminho isolado e introvertido, podemos ter a certeza de que a pobreza e a insegurança nos esperam.
Não se veja nestas linhas nostalgia dos tempos de isolamento ou de plena soberania nacional. A segunda metade do século XX mostrou com evidência que o exterior foi fundamental para o nosso progresso interior. Há mais de cinquenta anos que ligámos de forma indelével o nosso destino ao exterior. Com a NATO e a EFTA primeiro, a Comunidade Europeia depois, o mundo envolvente, Europa e o Atlântico, o mundo global, enfim. O exterior, as sociedades abertas e o mercado internacional foram certamente as principais fontes de alguma prosperidade que conhecemos desde os anos sessenta. Assim como das liberdades individuais e públicas, cuja inspiração primordial se vai buscar mais na inspiração e nas experiências dos povos vizinhos do que numa irresistível pulsão interior.
Mas foi também este mundo envolvente que nos trouxe as mais duras realidades do tempo presente. A produção insuficiente, a competitividade reduzida e a mediocridade de recursos tornaram a nossa sociedade mais débil e a nossa economia frágeis. O persistente desequilíbrio das nossas trocas com o exterior corrompeu as hipóteses de desenvolvimento e prosperidade.
Acontece que foi também esse mesmo mundo aberto que tornou ilimitadas as nossas expectativas. Aspiramos, porque o conhecemos, ao que de melhor se faz e tem neste mundo, sobretudo na Europa e na América, com quem nos comparamos obsessivamente. Mas não temos organização nem produção à altura das nossas aspirações.
E por que razão esta interrogação sobre o nosso futuro é tão actual, tão frequente? Será apenas mais uma manifestação desta incessante procura do “nós” colectivo? Creio que não. Vivemos tempos difíceis de desorientação. Depois de trinta anos de melhoramento constante e até de alguma prosperidade, verificamos que o que conseguimos está sob ameaça e que o que está ganho pode ser perdido. Temos agora a certeza de que já perdemos soberania e independência. Entregues às mãos dos credores, os que devem têm seguramente tudo a temer.
Parecia que já tínhamos ultrapassado as dores e as dificuldades de uma metamorfose que nos trouxe da ditadura à liberdade, do Atlântico e de África à Europa. Chegou a parecer que as liberdades e a democracia estavam seguramente ancoradas. Foi possível pensar que uma sociedade aberta e uma economia próspera tinham raízes bem assentes e persistentes. Durante uns breves anos, do final do século XX aos primeiros anos do século XXI, registámos mesmo, pela primeira vez na história, uma balança demográfica positiva: os estrangeiros que nos procuravam para viver e trabalhar eram em número superior ao dos Portugueses que, como era tradição, deviam procurar fazer a sua vida alhures.
Foi um momento passageiro. As saídas de Portugueses para o estrangeiro retomaram como antes, quase a fazer lembrar os anos sessenta de grande hemorragia. As condições económicas e sociais deterioraram-se. Eis que a dívida externa, o défice público, a intervenção internacional e a iminente falência, aparentemente evitada, nos impõem a questão: qual é, qual pode ser o nosso futuro?
É, pois, natural que a pergunta regresse. Ela denota incerteza e insegurança. Mas também a consciência da nossa dimensão e das nossas insuficiências. No entanto, qualquer que seja a nossa dúvida, legítima, não é possível esquecer o que fizemos recentemente. Realizámos, num punhado de anos, obra que nos honra.
Temos razões para estar orgulhosos. Fizemos em trinta ou quarenta anos o que outros demoraram cinco ou seis décadas. Depois de ter passado à beira de fracturas dolorosas e potencialmente trágicas, criámos os fundamentos de um Estado de Direito e de um sistema democrático. Alargámos a todos um Estado providência universal, com relevo para um Serviço Nacional de Saúde, que, mau grado defeitos e ineficiências, cumpre o essencial dos seus deveres e dos seus objectivos. Iniciámos a obra imprescindível de construção de uma sociedade plural onde vários deuses e diversas culturas podem conviver.
Mas também temos motivos para estar apreensivos. Falhámos na democracia participativa e no debate público, baseados numa informação acessível e honesta. Não conseguimos estabelecer uma Justiça em que se possa confiar como última instância de tutela e garantia dos nossos direitos e deveres. Não soubemos valorizar a ideia de responsabilidade pública através da qual uma espécie de frugalidade útil se imponha à voracidade ostensiva do dispêndio inútil. Não melhorámos significativamente os padrões de equidade, nem reduzimos as fontes de desigualdade excessiva. Não vencemos a fraude nem a corrupção, factores de iniquidade e inimigos da decência humana. Pior que tudo, perdemos de vista a continuidade e o futuro, habituámo-nos a viver com se ninguém viesse depois, como se não tivéssemos filhos e netos.
Podemos dizer que somos todos responsáveis. É esta, geralmente, uma afirmação desnecessária e inútil. E enganadora, pois impede-nos de saber porquê e como se chegou a uma qualquer situação. É uma frase que serve mais de desculpa do que de compreensão. Mas aceito que os nossos contemporâneos tenham todos, ou quase, uma quota-parte de responsabilidade, pois elegeram, designaram, confirmaram ou deixaram agir. Mas não esqueçamos que esta responsabilização universal pode conter a dolorosa ironia de culpar também, pelos excessos e pelo consumismo, muitos que nunca, durante estas décadas, deixaram realmente a pobreza e a carência.
Para além disso, que é evidente e não muito esclarecedor, houve evidentemente responsabilidades das autoridades, dos dirigentes, das elites políticas e económicas. A começar pelo uso excessivo de demagogia durante as últimas décadas. Parece ter-se seguido à letra a lição de Álvaro Pais, segundo o cronista. Prometeu-se o que não se podia dar. Deu-se o que se não tinha. E foi-se ainda mais longe. Distribuiu-se o que se não tinha produzido. Adiou-se o pagamento para as gerações futuras. Fez-se o inútil e o dispensável. Frequentemente, ao necessário, preferiu-se o vistoso.
Na política, substituiu-se a ideia de serviço pela da competição. O optimismo ilimitado dos vencedores impediu-os de ver os problemas criados ou não resolvidos. O pessimismo crónico dos vencidos impediu-os de encontrar as soluções. A este propósito, convém comparar os efeitos do pessimismo e do optimismo. Em certo sentido se pode afirmar que estamos diante dos resultados de um optimismo em excesso. Sob o seu reinado, tudo pareceu possível. Fizeram-se os piores erros da nossa história recente. Tomaram-se decisões que hipotecaram o futuro. Desfrutou-se uma tranquilidade que mais pareceu irresponsabilidade. Procurou-se uma facilidade que mais foi cumplicidade. Durante anos, os alertas e as denúncias de dificuldades de que muitos se fizeram eco foram recebidos como desistência crónica, como pessimismo doentio. Tinham razão os pessimistas, pois a lucidez nunca casou com o optimismo.
Temos, evidentemente, um futuro. Mas não sabemos qual é. Necessário é traçar os horizontes, antever as possibilidades... São as nossas escolhas de hoje que farão, sem que o saibamos em pormenor, o futuro. Uma vez mais, esta dúvida é razão forte para discutir e debater em permanência as hipóteses de futuro. Hoje, reinam a incerteza, talvez a insegurança e provavelmente o receio. Mais uma razão para discutir o futuro.
Uma nação informada e um povo habituado a debater e discutir são instrumentos de combate à incerteza. E são meios superiores para lutar contra as dificuldades. Hoje, após o resgate internacional das finanças portuguesas, a falta de informação e a ignorância sobre tantos aspectos da gestão pública recente enfraquecem a capacidade de resistência da população. Quase impedem as autoridades de pedir cooperação e compreensão para os esforços e os sacrifícios que se seguem.
A verdade é que se escondeu informação e se enganou a opinião pública. A acreditar nos dirigentes nacionais, vivíamos, há quatro ou cinco anos, um confortável desafogo. Era então possível fazer planos e criar projectos de grande dimensão e enorme ambição. Em pouco tempo, num punhado de anos, passámos a uma situação de iminente falência e de quase bancarrota imediata. Ainda hoje não sabemos as causas e o processo. Ainda hoje não conhecemos a origem exacta dessa terrível aceleração dos défices e das dívidas.
As causas externas são em parte responsáveis. Com certeza. Como em todos os países do mundo. Ou quase. Mas a maior parte dos países ocidentais não se encontra na mesma situação que Portugal. Algo se passou mais, em nossa casa. Ou fizemos menos, ou fizemos pior. Ou não nos preparámos. Ou não cuidámos da nossa fragilidade. E o facto de saber que dois ou três outros países vivem dificuldades semelhantes, mais ou menos graves, não é suficiente para nos desculpar. Há países e governos, a começar pelo nosso, que foram imprevidentes, complacentes e irresponsáveis. Pode ser grande a origem externa das nossas dificuldades. Mas a verdade é que é isso mesmo o que se pede aos governantes: que prevejam dificuldades, que previnam problemas e que protejam os seus povos durante as tempestades. Tivemos exactamente o contrário: as autoridades acrescentaram às dificuldades, não só pelas suas decisões, como também pelo seu comportamento teimoso e abrasivo.
Repito. Temos evidentemente um futuro. Mas não sabemos qual. Esse futuro depende cada vez mais de outros, dos vizinhos, do grupo do Euro, da União Europeia, dos Estados Unidos e até do resto do mundo. Mas não esqueçamos a lição de um académico americano, Jared Diamond, que alertou para a hipótese de povos e países decidirem, sem saber, extinguir-se. Vários povos, ao longo dos séculos, desapareceram dos seus territórios ou as suas nações dissolveram-se após longas fases de declínio e decadência em resultado da sua própria obra e das suas decisões. Os seus gestos e o seu comportamento eram deliberados, mas as suas fatais consequências eram desconhecidas.
É minha convicção que esse futuro, mesmo muito difícil, será europeu. Mas também creio que a Europa será, dentro de poucos anos, diferente da que conhecemos hoje. Ou muito mais federal, ou mais fragmentada. Gostaria que esse futuro fosse com o Euro, pois de outro modo o poder de compra do nosso povo sofreria um enorme desbaste.
Gostaria igualmente que esse futuro não se limitasse a uma integração no mais vasto conjunto europeu, com desaparição gradual das culturas e das identidades. Estas não têm, para mim, valor absoluto, em si próprias. Valem pelo que significam de mais humanidade e mais dignidade. Estou convencido mesmo que valem também como factor de liberdade dos cidadãos, mais próximos assim das instâncias cujas decisões implicam o seu destino e as suas vidas.
Reconheço não estar a desenhar contornos do futuro, nem sequer garantias, mas tão só a fazer breve lista de desejos. É talvez essa uma maneira de participar no debate nacional que se afigura urgente.
Tão urgente quanto a crise actual, devastadora de energias e de esperanças, tem revelado exigências. Para o nosso futuro, impõe-se, por exemplo, criar mais capacidade soberana e menor dependência dos credores. Como creio que importa ter um olhar diferente e mais ousado para os recursos naturais, a terra, as águas, a floresta e o mar. Já sabemos também que, sem investimento, nunca será possível diminuir a dívida ou aumentar a produção. Tudo deveria ser feito para que o investimento se sinta atraído, confiante e seguro.
Creio ainda que desta crise de incerteza resulta algo mais. A convicção de que os Portugueses não podem ou não devem ser chamados apenas para receber e sofrer as más notícias. Para matérias tão importantes como a sua Constituição e a integração europeia, nunca foram solicitados a debater e participar, menos ainda a aprovar. As escolhas actuais e a dureza do regime económico e social em que vamos viver são tais que é tempo de se fazer justiça ao povo. Informá-lo de modo completo e honesto, chamá-lo a discutir e dar a sua opinião seria uma excelente maneira de começar a olhar para o futuro.
(*) - Academia das Ciências de Lisboa
Instituto de Estudos Académicos para Seniores
Lisboa, 10 de Outubro de 2011
Subscrever:
Mensagens (Atom)